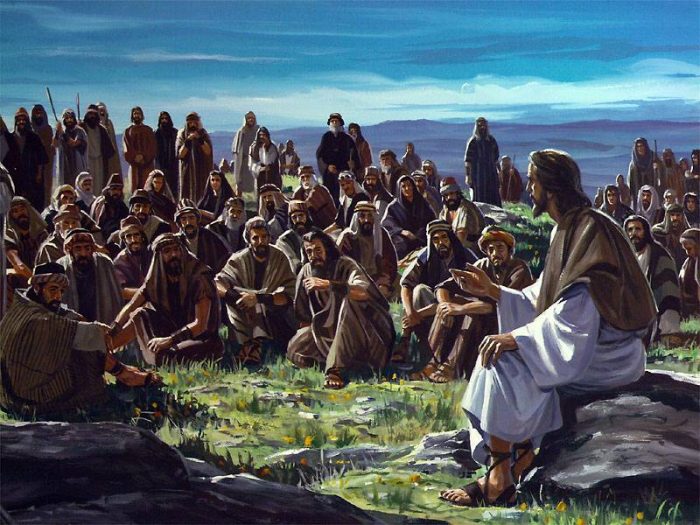Comércio e miscigenações
Em 1639 o Japão expulsa os portugueses e cessa o comércio com Macau. Perante isto, e para evitar que a fazenda que viera do Japão sem lá ser vendida caísse em poder holandês, o Senado interditou todas as viagens para a Cochinchina, Tonquim, Champa, Macassar, Camboja e Sião. Abriu, contudo, algumas excepções, citadas por Manuel Teixeira. Escreve o monsenhor: «A Gaspar da Fonseca permitiu que fosse a Camboja buscar o navio que lá tinha». A 6 de Dezembro de 1639 o Senado «autorizou Rodrigues Carvalho a ir a Camboja buscar mastros e madeira para reparar o seu navio, pois havia muita necessidade de navios em Macau».
O comércio de Macau iria receber ainda novos golpes. Em 1641, Malaca é conquistada pelos holandeses. Ameaçado fica o caminho de Macau para a Índia. Muitos portugueses de Malaca refugiam-se nessa altura em Macassar e no Camboja. Em 1640 dá-se a Restauração em Portugal. Porém, em Macau, a aclamação do Mestre de Avis como rei de Portugal só acontecerá em 1642. Na sequência disso, Manila cessa o rendoso e directo comércio existente entre as duas cidades. Que permaneceria interrompido entre 1642 e 1645. Para poder sobreviver, Macau tinha que se virar para os portos do Sul.
O Senado decide, pois, intensificar as trocas comerciais com Macassar, Camboja, Cochinchina e Toquim. Para estes três últimos destinos, os portugueses levavam «sedas, pessaria, escomilas (tecido de seda fina), azougue, vermelhão, pau da china, totonaga, alcatifas, cangas (tecido chinês de algodão), nunos (tecidos chinês de linho), louça solta, tachos e balças de louça».
Os barcos de Macau destinados à Cochinchina e ao Camboja faziam negócios e levavam ou traziam missionários. O Ta-Ssi-Yang-Kuo dá-nos conta que em Março de 1667 partia para o Camboja António Franco e respectiva embarcação. Pelo caminho, faz aguada na Cochinchina, onde entrega «ao rei as peças de seda que lhe tinha comprado com a prata que o ano anterior tinha trazido do mesmo rei o dito António Franco com o intuito de lha empregar em peças de seda».
Eram muitos os naufrágios, com perda de gente e fazenda. Escreve-se a propósito: «Com falta de tanta gente naufragada, além da que na terra tem morrido, parece Macau uma cidade de mulheres, as mais delas pobres e desamparadas, e vendo-se a terra tão pouco avultada em cabedais e muitas casas perdidas, indo tudo cada vez em maior deterioridade».
Manuel Teixeira recorda o caso de «um navio português que naufragou nas costas da China, conseguindo os sobreviventes alcançar Macau, onde o padre Jimenez veio a falecer em 25 de Dezembro nos braços do padre António Caldeira, antigo missionário de Camboja».
O FUNDIDOR JOÃO DA CRUZ
Seria injusto esquecer João da Cruz, um mestiço português, que de acordo com as fontes nacionais, era natural de Macau. Manuel Teixeira afirma até: «temos uma fonte oficial que confirma este testemunho (do jesuíta Manuel Ferreira, seu contemporâneo) declarando que João da Cruz foi mandado para lá pelo Leal Senado».
João da Cruz, artilheiro e fundidor de canhões, terá, de início, «entrado ao serviço do rei de Camboja, que o teria feito governador da província em razão da sua habilidade para fundir artilharia».
Os seus serviços seriam mais tarde requisitados pelos rivais cochinchineses, agora vencedores da guerra que os opunha aos khmers. Deram oportunidade ao artilheiro de montar a sua própria fundição perto da capital, Hué. Em cuja região existem, ainda hoje, muitas bacias e canhões fundidos por João da Cruz. Um personagem que grangeava imenso respeito junto da monarquia local. Graças a isso, os jesuítas viram o seu ofício um pouco menos complicado. Atesta a importância do português o texto que se segue, e que nos indica a forma como João da Cruz, em 1666, se apresentou em Faifo para receber os padres Riva e Bartolomeu da Costa, acabados de chegar de Macau. «João da Cruz apresentou-se aos padres com uma comitiva magnificentíssima. Os seus guardas vestiam casacos de seda e marchavam à sua frente, precedidos duma trombeta. A sua liteira e a de sua esposa eram de estofo de seda encarnada; a sua era levada por quatro homens e a da sua mulher por dois; um e outro eram seguidos por grande número de lacaios e oficiais da sua casa, todos muito agéis e em belos trajos».
João da Cruz gozava do direito de ter igreja própria, mesmo numa altura em que o imperador da Conchichina encetava perseguições ao Cristianismo.
O seu filho, Clemente da Cruz, nascido também em Macau, continuaria a obra do pai.
O NAFRÁGIO DE LUÍS DE CAMÕES
Dos personagens portugueses que viram as vidas ligadas a Macau e ao Camboja, a mais conhecido é Luiz Vaz de Camões.
Após estágio obrigatório na milícia, Camões é nomeado provedor-mor em Macau. Fica encarregue de inventariar e gerir provisoriamente os bens de pessoas falecidas ou desaparecidas. Há quem admita que em Macau, na gruta de Patane, o poeta tenha redigido parte de “Os Lusíadas”. Essa viagem épica de Vasco da Gama e de outros heróis trágico-marítimos recheada de mitologia, paixão, aventura e cobiça.
Acusado de apropriação de dinheiro alheio, Camões seria enviado a Goa para responder perante a justiça. No regresso, o navio que o transporta acaba por naufragar. Junto à foz do rio Mekong, no Camboja. A façanha nunca foi comprovada, mas para a história ficou a imagem de Camões, “Lusíadas” numa das mãos que se mantém fora da água, a nadar com a outra até atingir terra firme. Salvando, deste modo heróico, a vida e o manuscrito que o tornaria imortal.
Supõe-se que Dinamene seja a mulher chinesa que naufraga com Camões na costa cambojana. É a Dinamene, mulher real ou apenas nome poético, que Camões dedica alguns dos seus muitos poemas, nomeadamente o famoso soneto “Alma minha gentil que te partiste”. Se dúvidas persistiam quanto à destinatária, em alguma da sua criação lírica, elas são anuladas quando o próprio poeta a nomeia: «Torna a fugir-me. E eu gritando: – Dina…, / antes que diga mene, acordo, e vejo/ que nem um breve engano posso ter». Enquanto personagem, Dinamene é sobretudo exaltada pelas suas qualidades morais, mais do que pelos seus atributos físicos. Como o confirmam os seguintes versos: «Um mover d’olhos brando e piedoso, / (…) um doce e humilde gesto / (…) Um encolhido ousar; uma brandura; / um medo sem ter culpa; um ar sereno; / um longo e obediente sofrimento».
Rodrigues Lapa, na sua obra “Líricas” defende que, para Camões, Dinamene «foi das coisas mais suaves da sua vida, uma nota de amorosa mansidão na sua existência turbulenta».
O poeta retrata uma mulher doce, paciente e submissa, atributos que levariam muitos portugueses a casar com orientais. O jesuíta espanhol Alonso Sanchez, que esteve em Macau em 1582, afirma que «os portugueses se casavam com as mulheres chinesas de melhor vontade do que com as portuguesas, pelas muitas virtudes, que as adornavam».
Para concluir, recordamos a história de Kun Iam, a Deusa da Misericórdia, profundamente venerada em Macau e uma das mais elaboradas divindades do panteão budista. Há diferentes versões sobre a sua origem. Uma delas assegura que a deusa terá vindo da Índia para a China. O nome Kun Iam em sânscrito é Padma, que significa Nascida do Lótus. E, na realidade, a deusa é apresentada frequentemente sentada sobre um botão de flor de lótus.
O monge Pu Chan, que viveu durante a dinastia Sung (60-1272 A.C.), na sua versão, não faz referência à Índia, afirmando, isso sim, que Kun Iam era filha de um príncipe do reino do Camboja, e que o seu nome de baptismo seria Miao Shan. Reza a história que as duas irmãs desta jovem fizeram a vontade ao seu pai, casando-se com representantes da nobreza local. Miao Shan, espírito rebelde, pelo contrário, recusou-se a contrair matrimónio, afirmando que dedicaria o resto da sua vida ao budismo. A decisão provocou no pai uma desmesurada fúria, que a forçou a fugir para a China, onde se enclausurou no convento do Pardal Branco.
OS MONTEIROS DE PHNOM PHEN
Desse Camboja descrito por Tomé Pires, Gaspar da Cruz, Fernão Mendes Pinto e o próprio Camões, perdurou a prole deixada por aventureiros como Diogo Veloso, contratados pelos monarcas locais, e representada hoje por significativos núcleos de luso-descendentes. Todos estes reinos se digladiavam, buscando alianças com os portugueses que lhes proporcionavam tecnologia e conhecimentos militares.
Frei João dos Santos dá-nos uma ideia deste cenário na seguinte passagem da sua obra “Ethiopia Oriental”: «Neste tempo veio o rei de Sião com guerra sobre Camboja, e venceu o rei dela, e o pôs de fugida, e juntamente lhe levou muita gente cativa para Sião; entre os quais foram também os padres, e outros portugueses, que no mesmo tempo se acharam com o rei de Camboja nesta guerra; e todos iam presos e mui receosos de os matarem ou pelo menos de viverem toda a sua vida em cativeiro».
Dessa comunidade, enraizada ao longo dos séculos através de casamentos de interesse e endogénicos, saliente-se o abastado comerciante Col de Monteiro (1839-1908), que depressa ganharia os favores de Norodom Sihanouk, pai do actual monarca, que o faria seu conselheiro real. E a tradição foi-se perpetuando na família, sendo confiado ao seu filho, Pitou de Monteiro, o conselho dos ministros da Justiça e da Educação, e a um neto seu, Kenthao de Monteiro, a vice-presidência da Assembleia Nacional, o ministério da Educação, tendo-lhe sido atribuído ainda funções diplomáticas na Jugoslávia, Taiwan e no Egipto. Educado em França, Kenthao de Monteiro receberia das mãos de De Gaulle, aquando da sua visita oficial ao Camboja, a mais alta condecoração do Estado francês, o Cavaleiro da Legião de Honra, e acabaria por falecer nos EUA, já com provecta idade, em 2006.
Vários membros da família Monteiro fixaram-se na Austrália após a tomada do poder pelos Khmeres Vermelhos, escapando assim a uma morte certa.
Até ao dealbar do protectorado francês, em 1863, os luso-descendentes viveram sempre nas proximidades da corte real, primeiro em Lovek, depois Oudong e, finalmente, em Phnom Pehn. E o resultado deste profícuo intercâmbio luso-khmer estava bem patente nos muitos Sousa, Rosário, Noronha, Rodrigues, Almeida e Lopes com que se deparava folheando a lista telefónica da capital cambojana, onde havia um bairro designado Campo Português, de que nos deram conhecimento viajantes de meados do século XIX, como o francês Henri Mahout ou o alemão Adolf Bastian, e, mais tarde, já na década de 30 do século XX, o cardeal D. José da Costa Nunes, que, nalguns dos seus escritos, prestou especial atenção ao kampong cristão centrado na figura do padre e da catedral, e cujos habitantes exerciam funções de carácter militar, administrativo e liberal, ora como simples soldados ou guardas do palácio real, ora como intérpretes, escrivães ou até reputados médicos e mediadores nas relações comerciais de carácter regional ou internacional. O bispo açoriano salienta, nas páginas do seu diário, a existência ainda de um crioulo muito próprio, e um grande apego às tradições e cerimónias cristãs, cujos ritos se tinham vindo a transmitir de geração em geração, desde o século XVI.
Também o francês Thomas Caraman, nada ortodoxo funcionário colonial, já que era um apaixonado pela cultura kmher, mencionou nos relatos que deixou para a posteridade a presença de uma significativa comunidade mestiça vinda, em 1605, das Celebes, na sequência da bem sucedida campanha holandesa de nos expulsar do Extremo Oriente, e que engrossaria consideravelmente a comunidade católica já existente no Camboja.
Na década de 1860, Adolf Bastian escreveu o seguinte a propósito dessa comunidade: «Muitos dos cristãos são de ascendência portuguesa. O actual rei do Camboja atribui parte da sua educação ao bispo católico. Os cristãos constituem a guarda de honra do Rei, que gosta de os observar enquanto fazem exercícios de fogo com artilharia pesada».
Nessa época, o Camboja encontrava-se sob o domínio do vizinho Sião, e tanto num como noutro país, muitos dos membros da administração e do exército eram de ascendência portuguesa, e quando não o eram sentiam orgulho em vestir-se com trajes europeus, «fatos segundo a moda do século XVII», como bem nota Mouhot, cujos escritos inspirariam Adolf Bastian.
Por seu lado, David Steinberg, no seu livro “Camboja, Its People, Its Society, Its Culture” afirma que os euro-asiáticos desse país eram «descendentes dos portugueses chegados ao Camboja no século XVII», que, desde então, tinham perdido todos os traços fisionómicos europeus, retendo, no entanto, os apelidos portugueses, como «Mendes, Dias, Col de Monteiro, Norodom Fernandes», não se esquecendo ainda de salientar a influência e o prestígio que todos eles gozavam na administração cambojana.
FIM
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow