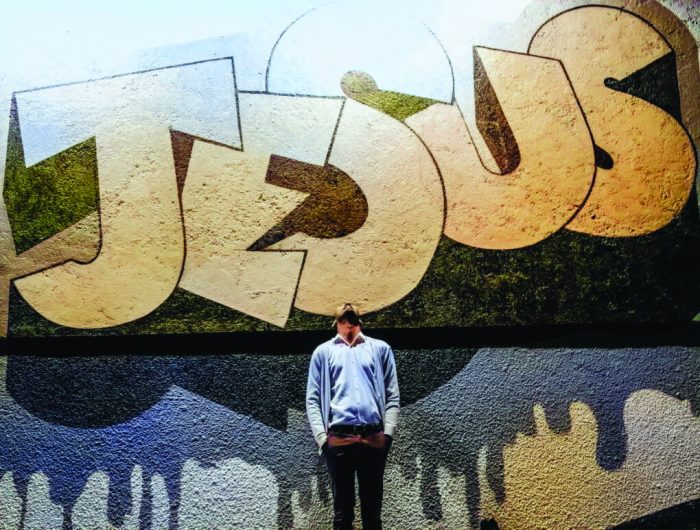Um Rioja no Adrar
Entre os estrangeiros que conheci no Auberge des Caravannes contavam-se dois guineenses, que ali trabalhavam sazonalmente e sonhavam viver em Portugal – «não me consegue arranjar um visto de entrada?», perguntava o mais jovem – e um bando de catalães bastante divertidos. Na sua companhia regressei a Nouackhot, desta feita numa furgoneta. Ernest Molluna, o chefe do grupo, deslocava-se a Portugal com regularidade.
«– Adoro o teu país mas, vais desculpar-me, não é em Portugal, mas sim no País Basco, que se preparam os melhores pratos de bacalhau», dizia. Uma frase destas tem muito que se lhe diga, pois ultrapassar a excelência dos pratos de bacalhau da lusa culinária é algo quase impossível.
Dessa feita, agora que o céu estava claro e os efeitos do Hammat mal se faziam sentir, tive a oportunidade de apreciar as vistas e registar algumas fotos do alto do passo de Amogar. Simplesmente sublime, a paisagem em redor. Entre os calhaus de cores variadíssimas, aqui e acolá, pontas de obuses ferrugentas testemunhavam guerras passadas.
Nova paragem no Auberge L’Ejoid, único local onde se podia comer e abastecer o automóvel em toda aquela imensidão. Um prato simples, chá preto tradicional e três ou quatro produtos de mercearia, e era tudo.
De novo a plenidão do deserto com algumas barracas. As mais amanhadas eram, muito provavelmente, pequenas mesquitas, sobressaindo entre os arbustos resistentes ao vento e ao calor. Seguiu-se uma vasta extensão de areia branca e algumas dunas viajantes, os “ergs”. Essa era areia invasora, originária da costa, tomando o lugar da congénere alaranjada. Pejando o chão, conchas de todos os tamanhos e feitios lembravam-nos que há milhões de anos tudo aquilo fora um imenso mar. Como puderam resistir todo esse tempo, assim expostas aos elementos, apesar de não estarem fossilizadas? Impressionava também a resiliência das poucas plantas existentes que iam buscar água não sei aonde. Passavam por nós alguns camiões e, claro, de novo e sempre, confrontávamo-nos com os postos de controlo da polícia mauritana, ocupando simples barracas de taipa, roulottes despedaçadas ou tendas de lona.
«– Mas que garantias nos podem dar esses bandidos disfarçados com uniformes!?», desabafou Jordi, o mais jovem dos catalães, ao ver os agentes da autoridade mauritanos especados no macadame. Ele conhecia bem os seus métodos de extorsão, ou tentativas disso.
«– Não me arranjam um presente para a minha filha? Que tal este saco-cama?», a pergunta fora lançada “inocentemente” a Ernest Molluna, a ver se pegava, pelo polícia de serviço. A sua táctica, porém, não resultou, pois o catalão fez-se desentendido e com um sorriso fechou a bagageira. Mas há alturas em que os agentes não pedem – exigem. Meia centena de quilómetros antes, tínhamos sido obrigados a pagar uma “taxa de passagem”, só porque os militares do posto estavam embriagados e, quando assim é, nada há a fazer, até porque os meninos fazem questão de andar bem armados.
Uma hora depois, os catalães estacionaram na berma da estrada e montaram a mesa para petiscarmos algo. Era a desforra dos infiéis, acompanhada de um chorizo de cerdo, uma garrafa de Rioja e outra de Crianza.
«– Que bom que é pecar!», comentava o sempre bem disposto Juan, o mais velho dos três.
Ali, no meio do nada, onde as dunas de areia branca se misturavam com as dunas de areia alaranjada e as conchas revelavam a verdadeira natureza do deserto, na meia hora de convívio à sombra de uma das raras árvores, nem por um segundo nos passou pela cabeça a mínima ameaça à nossa segurança. O mesmo se terá passado com os franceses mortos dias depois, num cenário em tudo idêntico ao que desfrutávamos ali.
Pela segunda vez no Menata voltei a deparar com um português, bastante mais jovem. Fosse para onde fosse, o João, há muito residente na ilha do Sal, não largava a sua prancha de surf. Cheguei do Adrar ao fim da tarde e ele ia para o Adrar na manhã seguinte e ainda assim tivemos tempo para ficarmos amigos. Não deixou de ser estranho vê-lo partir com a mochila às costas e a prancha debaixo do braço, rumo às areias do deserto. Quiçá tentasse surfar umas quantas ondas de areia. Não seria má ideia.
Nesse mesmo dia, entre os viajantes partilharam-se os pratos confeccionados na cozinha colectiva do Menata, onde o cágado parecia ter garantido o seu lugar cativo.
Na manhã seguinte dirigi-me aos arredores da cidade disposto a encontrar transporte que me levasse a Rosso, a fronteira com o Senegal. Caiu-me em sorte um Toyota Corolla a desfazer-se de podre, embora a maioria dos transportes públicos locais fossem furgões Mercedes Benz, também eles num estado avançado de decomposição. Passámos a grande velocidade por campos e aldeias com gente pobre e pastores de olho nas cabras esquálidas, começando a surgir, à medida que desfilavam os quilómetros, campos cultivados, manchas verdes e árvores de maior porte. Era o deserto dando lugar a uma região mais habitável.
Imaginando a costa percorrida e escrutinada pelos navegadores portugueses a mando do Infante, dei por mim a pensar: Afinal, não mudou assim tanto o panorama. Descrevia-o assim o De Prime Inventione Guine, antes da chegada ao rio Senegal: “E navegando ainda mais viram uma terra cheia de árvores e palmeiras, e saltaram em terra firme. E toda aquela gente era preta, e os cristãos faziam sinais de paz, e eles não entenderam”.
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow