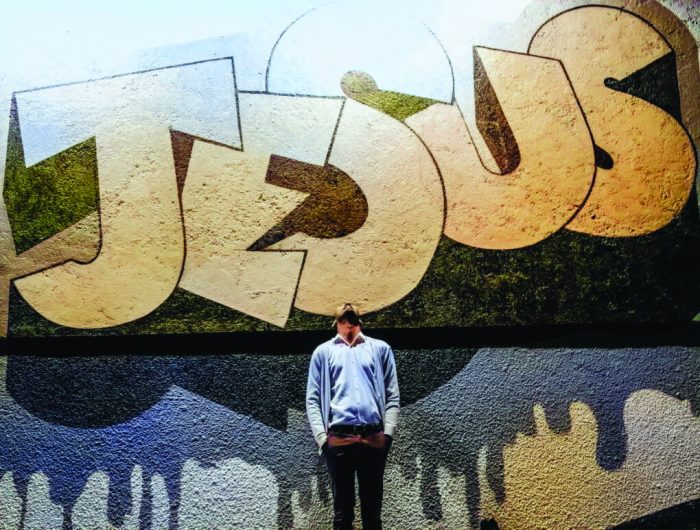Rumo ao Rio do Ouro
A passagem do Bojador representa a morte da geografia medieval e o triunfo da experiência sobre a lenda. Apesar de o intuito ser o de descobrir terra, os primeiros a deparar com “vestígios de seres humanos e camelos na areia do sertão branco” cedo sucumbiram à ganância e, muitas das vezes, preteriram a descoberta em favor do comércio, que começou por ser de óleo e peles de focas e algum ouro para se transformar num comércio de mais ouro ainda e, sobretudo, muitos seres humanos. Convém não esquecer, porém, que os fornecedores de escravos eram esclavagistas experimentados. Há milénios que os árabes e berberes compravam sudaneses para os vender nos portos do Mediterrâneo.
A figura mais grada de todas estas personagens é a de João Fernandes, provavelmente o primeiro dos antropólogos. Além de se interessar pelos idiomas e costumes de outros povos, desempenhou o papel de “espião” e agente comercial. Durante os sete meses que passou no deserto estabeleceu profundos laços de amizade com os habitantes. O cronista Zurara não esconde o seu espanto pela afeição que os moradores “daquela terra” demonstraram a João Fernandes, “chorando a sua partida” quando ele foi resgatado pelos seus, no Rio do Ouro. Este aventureiro salientou a existência de uma língua diferente, “embora se escrevesse com caracteres arábicos”; descreveu os modos de viver quotidiano daquela gente, a forma como se alimentava, a presença das poucas palmeiras e de “inúmeras figueiras-do-inferno”; não se esquecendo de sublinhar a escassez de água e a existência de poços, fundamentais para a vida no deserto e que explica o provérbio sarauí “a água é ligeira”.
Eram pormenores destes que verdadeiramente interessavam os mencionados intelectuais sarauís, honrados por terem sido os primeiros africanos a ser contactados num mundo que já então se anunciava global. O processo, para bem e para o mal, não mais parou.
No final da nossa conversa, um deles ofereceu-me um livro que reunia uma compilação de textos de cronistas árabes referindo-se à nossa passagem por aquelas paragens.
Alguns quilómetros a sul de Bojador, e a menos de cem metros do sempre imaculado areal, avistavam-se três barcos encalhados, agora destroços a enferrujar – a prova de que o mito medieval tinha alguma razão de ser. Branca, a crista das ondas ia-se tornando acastanhada ao aproximar-se da areia, uma clara indicação da existência de baixios.
Foi ao largo de uma dessas praias desertas (passados os séculos, desertas continuam) que Gil Eanes colheu as “rosas de Santa Maria” que levou ao Infante, provando assim a existência de vida além-terra incógnita. “Sempre que chove despontam do solo muitas dessas flores, e de todas as cores”. Lembro-me de alguém ter dito algo do género quando mencionei o sobejamente conhecido episódio descrito por Gomes Eanes de Zurara.
As arribas dali chegam a atingir dezenas de metros de altura. Marcos de cimento de cor branca, quais padrões modernos, iam surgindo regularmente junto ao limite da terra, avisando os incautos de que dali em diante era o abismo. Barracas, tendas ou simples amontoados de pedra, obra de pescadores de passo, os únicos sinais da presença humana nas centenas de quilómetros de aridez, cenário propício a que a monotonia depressa se instalasse.
Esta é a Terra Baixa dos mapas antigos, por oposição à Terra Alta que antecede o cabo Não.
Os quatrocentos quilómetros que separam Bojador de Dakhla levar-me-iam cinco ou seis horas a percorrer. Os navegantes quinhentistas demoravam semanas, sem grandes novidades para anotar nos roteiros de bordo, pois pouco muda na paisagem. Ao olhar para leste, o horizonte apresentou-se-me plano e povoado de ervas e calhaus. De repente, a ocasional duna, ou melhor, o mini erg, verdadeira guarda avançada do deserto. Como se explica que tenha chegado esta areia ali e não a outros sítios? Os ergs (montanhas de areia) são um fenómeno interessante, que não resultam da erosão e tanto podem aparecer numa vasta planície como “colar-se” à encosta de um monte pedregoso, criando a ilusão de que este se está a desfazer. No meio de tanta aridez, o único ponto de fuga para o olhar é o oceano. Mas é possível que há quinhentos anos fosse bem maior a mancha de vegetação.
Parámos para almoçar numa bomba da gasolina com restaurante incorporado. A água canalizada que ali chegava, originária de poços, estava infectada com um bacilo qualquer, pois havia placas junto à estrada, ao longo de vários quilómetros, alertando-nos para o facto.
O mapa dizia-nos que estávamos em Chtoukane, embora não se avistasse qualquer povoação. A não ser que a falésia, a uns duzentos metros – onde esperava poder espreitar o mar – revelasse alguma coisa. Come efeito, atravessada uma lixeira, devidamente “assinalada” por uma antena de telemóveis (outra ainda!) alimentada por um painel solar, abeirei-me dessa falésia e deparei, ao fundo, com um aglomerado de habitações que à primeira vista pareciam ruínas de uma antiga civilização. Presumi que fosse uma das aldeias-fantasmas do Saara Ocidental, abandonadas aquando da ocupação marroquina.
O empregado do restaurante confirmou o nome do povoado, mas não a razão do abandono. Sentados a uma mesa, um casal de meia-idade comia o seu quarto de frango com batatas fritas acompanhadas com amostras de alface e tomate, tudo envolto numa maionese de aspecto enjoativo. Eram os únicos passageiros estrangeiros de um outro autocarro ali estacionado, também com destino a Dakhla. Por uma questão de boa educação, saudei-os quando passei por eles a caminho da casa de banho, mas não responderam. Quando regressei ao meu lugar, voltei a acenar-lhes. Uma vez mais, nem tugiram nem mugiram. Limitaram-se a lançar-me um olhar desconfiado como se nunca tivessem visto um branco em toda a sua vida.
Mas o que faz gente desta por aqui? Não era suposto estarem protegidos nas suas propriedades muradas, em bairros residenciais, urbanos ou rurais, mais ou menos chiques?
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow