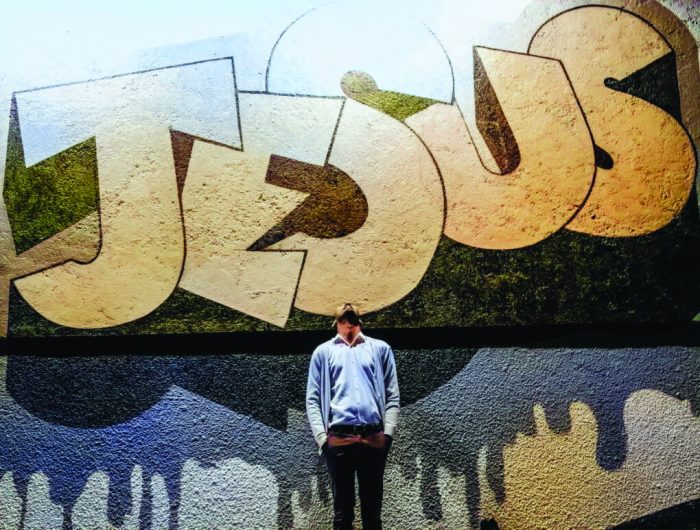Gaúchos e tropeiros no Rio Grande do Sul
Enquanto os descendentes de transalpinos falam em “epopeia italiana” quando se referem à imigração acontecida no início do século XX, o comum dos mortais no Brasil, por mais Silva ou Cardoso que seja, não parece ciente da importância da influência lusitana em todos os domínios do seu dia-a-dia, fruto de uma convivência de meio milénio. Domínios que se estendem da música à culinária, da arquitectura às festas populares, só para mencionar algumas áreas da vida diária. E andam os intelectuais lusófonos preocupados com o acordo ortográfico, essa pomposa falsa questão.
Quem conhece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o nome de Cristóvão Pereira de Abreu, parente dos Távoras, cavaleiro da Ordem de Cristo, pioneiro em muitos dos territórios dessa região inicialmente conhecida como Rio Grande de São Pedro do Sul, e grande impulsionador do comércio dos couros através do porto de Colónia de Sacramento, no actual Uruguai?
Abreu sabia desenhar cartas geográficas e tinha bom domínio do idioma, tanto da ortografia como da sintaxe. Em 1702 o rei português estabeleceu um contrato com ele. Data de então a aliança que o audaz empresário aventureiro fez com os índios minuanes da Banda Oriental. A hecatombe de bovinos para a extracção de couro que se seguiu – acto bárbaro, sem dúvida, sobretudo aos nossos olhos de seres humanos do século XXI, preocupados em preservar o que resta do planeta – estabeleceu as bases do que é hoje a cultura rural local, definindo os perfis originais da sua tipologia humana, os inicialmente chamados “changador” e “gauderio”, e mais tarde gaúcho.
Nódoas aparte, foram personagens da fibra de Abreu que abriram as rotas para o interior do denominado Mato Grosso, e não me cabe a mim nem a ninguém julgar os seus actos. A história, ao contrário do que muita gente julga, não é um tribunal – como se não tivéssemos imensos assuntos com que nos preocupar na actualidade.
Esses pioneiros na abertura de rotas e picadas, no estabelecimento dos primeiros povoados, enfrentando todo o tipo de perigos, acamaram o terreno onde outros estão agora deitados a saborear os frutos, muito tranquilamente. Mas a toponímia não engana. Abra-se, por exemplo, um mapa detalhado do Rio Grande Sul, onde a tal “epopeia” transalpina teve lugar, e atente-se nos nomes das povoações. Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Carlos Barbosa, Alto Feliz, Flores da Cunha. Tudo, tudo nomes portugueses, indício que por lá andamos e nos estabelecemos muito antes da chegada de outros europeus.
Essa apropriação de feitos nossos não acontece apenas em relação à história do Brasil. Inúmeros locais visitados pelos portugueses em todo o mundo ao longo dos séculos XV, XVI e XVII surgem nas enciclopédias e documentários televisivos como se tivessem sido descobertos por exploradores britânicos no século XIX. Juntam-se a essas ilustres figuras, de quando em vez, alguns franceses e um ou outro indivíduo de nacionalidade avulsa. E são estas mentiras descaradas que circulam pelo planeta sob o disfarce de informação credível e científica, ajudando a impingir e a impor uma visão do mundo anglo-saxónica que aceitamos alegremente e quase sem pestanejar. Fraqueza a nossa: duvidamos e desconfiamos da própria sombra, mas não nos importamos que nos tirem o sol da frente.
Exemplos do que atrás fica escrito são mais que muitos. Lembro dois magníficos recantos do planeta, detentores do título património da humanidade. Refiro-me às ruínas de Angkor, símbolo maior da civilização khmer, e à mítica Timbuktu, a cidade das caravanas, perdida no deserto do Sara. Os primeiros ocidentais a visitarem esses lugares foram, respectivamente, o frade António Madalena e os lançados Gonçalo Eanes e Pêro de Évora. Estes últimos lograram a façanha no remoto ano de 1487. Claro que os seus nomes não constam das enciclopédias nem são mencionados nos documentários feitos sobre a matéria, e mesmo à maioria dos portugueses nada dizem.
MARCHA DOS TROPEIROS
Aplicando esta injustiça à realidade geográfica que visito, consulte-se a obra do historiador luso uruguaio Fernando Assunção, que falava das «incríveis marchas até Sorocaba e, mais tarde, até às denominadas Minas Gerais, numa fantástica gesta que está ainda por se escrever e que torna insignificantes os famosos trails dos pioneiros da América do Norte, entre o Texas e a região dos grandes lagos».
É bem verdade o que diz Assunção. Basta olhar para um mapa e fazer as devidas medições.
As marchas protagonizadas pela tropa (daí o termo tropeiro, muito utilizado no Brasil) deram origem às primeiras estâncias, locais onde existia curral e rancho. Ali se passava a noite e se fazia descansar o gado. A disseminação dessas estâncias na região do Rio Grande, permitiu pouco depois a conquista pacífica e a colonização da província, que teve o seu início desde terceira década do século XVIII.
Todos nós, os rapazes, na meninice sonhámos com as caravanas dos colonos do oeste norte-americano em constantes apuros devido aos ataques dos índios. Mas poderíamos muito bem ter sonhado com as aventuras de antepassados nossos, hoje praticamente desconhecidos, nesse mesmo continente, só que a sul e alguns séculos antes. Ou seja, se a nossa educação tivesse sido outra, a imagem do cobói a fritar feijões e toucinho na sua frigideira e a dormir ao relento embrulhado numa manta junto a uma fogueira com os cavalos amarrados por perto (imagem vezes sem conta retratada no cinema, fosse no formato John Ford ou no formato Sergio Leone), seria a imagem do tropeiro, pioneiro das rotas brasileiras. E eu, que sempre tomei o partido dos índios (a razão desta minha posição deve-se muito à beleza do escorrido cabelo das squaws apaches ou sioux) teria naturalmente direccionado a minha “antipatia” contra os tropeiros, em vez de serem os cobóis a levar com as setas nos meus jogos de infância. Se a nossa educação tivesse sido outra, em vez de ter coleccionado resmas de livros de cobóis (como chamávamos à incipiente banda desenhada que então se produzia e que eu comprava ao homenzinho que a vendia todos os Domingos à saída da missa, juntamente com os santinhos) teria coleccionado aventuras de tropeiros. Em vez de seguir os folhetins do Kit Carson, do Buck Rogers e do Pat Garret, teria aprendido as histórias reais de um Bento Gonçalves ou de um Cristóvão Pereira de Abreu, que depois guardaria com todo o cuidado debaixo do travesseiro para reler antes de dormir.
O problema é que andámos há já muitos anos – brasileiros, portugueses e outros que tais – a reger-nos pela mesma bitola, dançando ao toque de caixa daquilo que o universo anglo-saxónico produz e com sucesso transmite para todo o mundo.
LÍNGUA, ELO DE LIGAÇÃO
Mas voltemos ao que interessa. Inquestionável elo de ligação entre as pessoas do Brasil e as de Portugal é o facto de falarem a mesma língua, se bem que em Terras de Vera Cruz não deva o português utilizar termos como “camisola”, “bicha” ou “rapariga”, sob pena de ser mal interpretado, pois têm um significado totalmente oposto ao pretendido.
Assim não pensa Afrânio Coutinho, antigo membro da Academia Brasileira das Letras, quando escreve o seguinte: «Portugal tem razão, realmente a língua portuguesa é deles. A nossa é a língua brasileira. Os dois idiomas, o de Portugal e o do Brasil, saíram de um tronco comum e se desenvolveram divergentemente a partir do Renascimento. Por isso nunca haverá unidade linguística, sonho de alguns sentimentalistas. Seremos sempre dois países separados por idiomas parecidos, mas diferentes cada vez mais». A polémica em redor da língua portuguesa é já antiga. Convém trazer aqui declarações dos anos 20 do século passado, proferidas por Medeiros de Albuquerque, que a este respeito afirmava: «Somos hoje os donos da língua. É a nossa opinião que deve prevalecer em todos os desacordos. Portugal tem, actualmente, segundo as estatísticas oficiais de lá, menos de dois milhões que saibam ler e escrever. Nós temos mais de dez milhões». Foi por estas e por outras que surgiram alguns arautos do apocalipse a preverem a eventualidade do idioma de Camões desaparecer da face da terra dentro de alguns séculos, como aventava um certo professor norte-americano. A realidade, felizmente, é bem diferente: à Língua Portuguesa só lhe resta o caminho do crescimento. É uma inevitabilidade.
Atento português deve levar na bagagem para o Brasil, pelo menos, dois arremessos de retórica, essenciais para contra argumentar, já que muita da veia do padre António Vieira ficou deste lado do Atlântico.
O brasileiro é excelente na oratória, discursa como ninguém. E não estou falar apenas do político ou do pastor evangélico (esses tiraram o mestrado com distinção), mas sim do homem comum que vemos ser interpelado na rua por uma equipa de televisão para saber o que pensa da actual crise mundial. Impressiona a riqueza do vocabulário que utiliza.
Esse homem comum (na sua versão colectiva) recuperou até muitas das palavras e expressões que nós deixamos de utilizar. É o caso do belíssimo termo “enxergar”. A última vez que o ouvi sair da boca de um português – um velho transmontano – tinha acabado de passar a noite num dos palheiros da aldeia comunitária de Rio de Onor. Já lá vão um ror de anos, portanto.
O brasileiro usa “enxergar” com o mesmo à vontade e displicência que nós usamos “ver” ou “olhar”. Eu, por exemplo, que me farto de olhar pela janela quando viajo de autocarro ou comboio, sempre a tentar reter tudo o que vejo, ou que imagino que vejo, farto-me de aprender palavras novas. Assim, a olhar para as estradas do Rio Grande do Sul, e porque não tinha dicionário à mão, cheguei à conclusão que “arroio” e “córrego” só podiam ser sinónimos de ribeiro. E se calhar estas duas palavras até são comuns em muitas partes de Portugal, só que eu – ignorante me assumo – as desconhecia, de todo.
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow