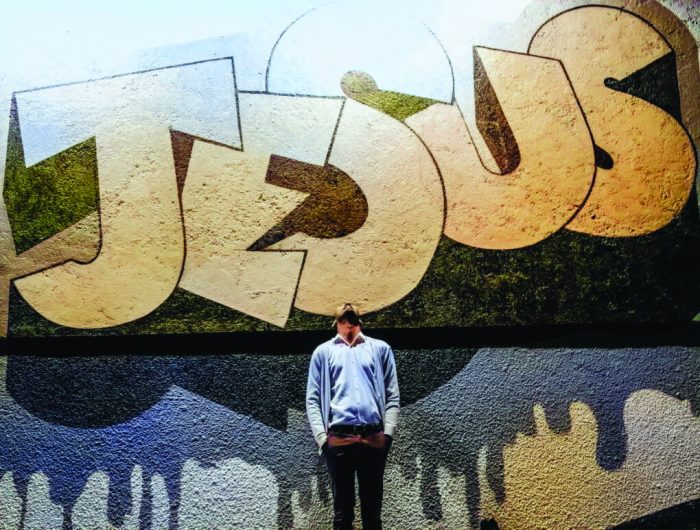Imagens de portugueses nas paredes dos templos hindus
Aqui há uns anos visitei a cidade de Hugli, uns quilómetros a norte de Calcutá, no âmbito de um documentário que estava a fazer sobre os jesuítas João Cabral e Estêvão Cacela e alertaram-me, na altura, para a presença de representações de portugueses nas paredes de um templo na vizinha povoação de Bansberia. Infelizmente, e apesar de várias insistências minhas, não fui autorizado a entrar nas instalações e só pude fotografar ao longe. Como é sobejamente sabido, muitos dos templos hindus interditam o acesso a não-hindus; e como quase nunca se pode distinguir visualmente um hindu de um muçulmano ou de um cristão de origem indiana, a proibição aplica-se, na prática, a todos os estrangeiros, muito em particular a caucasianos de extracção europeia.
Perdura ainda no imaginário popular do subcontinente o estereótipo do “branco impuro” devido aos seus diferentes hábitos de higiene e ao consumo de itens “proibidos”, como a carne e o álcool. Aliás, essa é, afinal, a razão de ser do bizarro álibi do execrável regime de castas, neste caso extensível aos próprios crentes hindus das classes sociais mais baixas, os ditos “intocáveis”. Por esta razão não deixa de ser curiosa a existência de diversas representações de europeus em painéis de terracota nas paredes exteriores de certos templos da Bengala rural, um espaço, por norma, reservado aos artistas locais que neles imortalizaram figuras míticas e semi-divinas, aproveitando ao mesmo tempo para registar a vida social do abastado mundo rural daquela época. Assim, a par das cenas dos clássicos hindus Ramayana ou Mahabharata, deparamos frequentemente com figuras de nababos deleitando-se com cachimbos de água ou músicos e dançarinos entretendo os senhores dos palácios.
A introdução do elemento europeu – homens montados a cavalo ou empunhando espingardas – acontece após a chegada dos portugueses. A partir do século XVI tornar-se-ão parte integrante da paisagem urbana e rural de todo o subcontinente. Pressupõe-se, portanto, que aqui, à semelhança do que aconteceu noutras partes da Ásia, fosse pela via escultórica ou pela pintura, nas obras de arte de teor laico e sobretudo religioso – e estou a lembrar-me de países como Myanmar, Tailândia, Ceilão ou o Japão –, que ficariam retratados para a posteridade os comerciantes, os clérigos, os mercenários ou até os piratas portugueses, estes últimos conhecidos coloquialmente em Bengala como “firingees”, daí o sentido pejorativo colado a esse termo que perdura ainda nos dias de hoje.
Para tentar perceber a real extensão do fenómeno, fiz uma pesquisa na Internet e deparei com um artigo intitulado “Visualizing the Firingee, the Saheb and the Memsaheb on Bengal Temple Terracotta: the Articulation of a ‘Native Gaze’”, da autoria da indiana Satyasikha Chakraborty, leitora da Universidade de Rutgers, Nova Jersey. Ao iniciar a leitura fiquei com a impressão de que a académica (licenciada pela Universidade de Calcutá) parecia conhecer bem a realidade no terreno, mas depressa mudei de opinião. Pelos vistos, para Satyasikha Chakraborty o preponderante papel socioeconómico, e até político, dos portugueses em Bengala ao longo de vários séculos resume-se a uns quantos soldados “com chapéus, casacos curtos e calças, carregando sempre armas e marchando como se estivessem numa parada militar”, retratados nos frisos inferiores dos templos de Sukhoria, Baranagar, Bankati, Malancha, Kalikapur, Jhikira e de outras aldeias, e ainda a uns outros tantos dentro de embarcações (nos templos de Bishnupur, Bansberia e Purusottampur), algumas com janelas de onde espreitam cabeças humanas, possivelmente gente capturada, pois o comércio de escravos era dos mais lucrativos em toda aquela região. Ou seja, a senhora Satyasikha reduz o português à figura marcial e nada simpática do aventureiro corsário ou então à do hediondo escravocrata, e dali não sai. Doravante, todas as restantes representações de europeus terão de ser forçosamente da civilizadora gente britânica, mesmo que a sua indumentária não corresponda, de todo, à indumentária da época em questão. A par dos piratas e dos traficantes de escravos, normal seria (como terá acontecido) que simultaneamente tenham sido também retratados os padres, os marinheiros, os comerciantes e os plantadores de índigo, que os havia, e bem abastados, no seio da vasta comunidade portuguesa, não sendo preciso a chegada dos saheb e memsaheb britânicos para que tal viesse a acontecer, como sugere ao longo de todo o seu trabalho a investigadora de origem bengalesa.
Satyasikha Chakraborty é incapaz de conceber o facto de terem sido os portugueses os reais protagonistas das cenas do quotidiano estampadas nas paredes dos templos de Sukhoria, Baranagar, Bankati, Malancha, Kalikapur e Jhikira: cenas de caça, deslocações à boleia de palanquins e no dorso de elefantes, montadas a cavalo na companhia de animais domésticos e até dos descontraídos fumadores de narguilés sentados em tapetes desfrutando das festas abrilhantadas por sensuais dançarinas. Cenários, de resto, que nos lembram as conhecidíssimas ilustrações de Jan Huyghen van Linschoten, espelho perfeito do período de grande fausto a anunciar já a decadência da dita Goa Dourada. Esquece Satyasikha que os senhores feudais locais tinham ao seu serviço inúmeros mercenários portugueses (que ela denomina de piratas), na realidade ex-soldados do reino, daí o ar disciplinado que o artista soube exprimir na argila. Esquece Satyasikha os inúmeros casamentos inter-raciais, cujo resultado é ainda hoje visível quisesse a senhora estar atenta a pormenores como o léxico local, os apelidos ou a crença religiosa comum de muitos dos seus antigos conterrâneos. E eu pergunto: como pode uma historiadora que se preze negar o desempenho dos portugueses naquela região? Não sendo má-fé, só pode ser ignorância. Sim, porque entretanto pesquiso mais sobre a dita cuja – por sinal bem gira (pronto, lá vem a legião do politicamente correcto acusar-me de assédio) – e descubro que é adepta dos estudos do género e dos estudos pós-coloniais. Explicado está o mistério.
Os cultores destas matérias, agora em voga, mostram-se tão obcecados pela forma que frequentemente se esquecem do conteúdo. E como seguem cegamente uma cartilha pré-determinada, onde tudo é preto e branco, e as matizes não contam, colocam tudo no mesmo saco. É muito mais fácil, não obriga a grandes raciocínios e, sobretudo, dispensa o imprescindível conhecimento no terreno. Parece ser o caso. Eis o que Satyasikha escreve, por exemplo, a respeito do tratamento infligido pelos estrangeiros às mulheres locais: “Antes do influxo das memsahebs e do cultivo colonial de uma distância social e sexual do império, os homens europeus extraíam rotineiramente trabalho doméstico, sexual e reprodutivo das mulheres nativas com as quais coabitavam antes de abandoná-las e retornar à Europa”. Ora, se temos uma inteira verdade na primeira parte desta frase, deparamos com uma meia mentira na sua conclusão. Os portugueses vieram para o Oriente para ficar, como ficaram, constituindo famílias mestiçadas. Com ou sem crimes, fizeram-no, e esse é um facto incontestável. Quanto aos ingleses, sim, impuseram esse tal distanciamento social e sexual, pois os secos e molhados eram o seu único interesse. Afinal, não passavam de meros funcionários de uma imensa companhia comercial…
Prossegue Satyasikha, dizendo que “essa prática deve ter gerado tensões na sociedade nativa e vemos esse medo capturado pelos artistas de terracota nas paredes do templo de Hadol Narayanpur, Halisahar, Kamarpukur e Hetampur”. Desconfiado de semelhante afirmação vou à procura das referidas imagens e tudo o que vejo, em ambos os casos, é um homem e uma mulher abraçados, lembrando vagamente as imagens eróticas de Khajuraho.
Mas insiste a investigadora, garantindo que os artistas de terracota “incorporavam as ansiedades da sociedade rural de Bengala em relação à penetração estrangeira e ao domínio colonial”, pois os homens brancos transmitem quase sempre um elemento de violência, expressa, por exemplo, no uso da arma, como se entre os locais as mesmas não abundassem… Até uma simples bengala é encarada aqui como uma arma. Enfim, o delírio total. No final do texto leio, em rodapé, o seguinte: “fotos de Sarbajit Mitra”. De baixíssima resolução, saliente-se. Pois, bem me parecia. Satyasikha Chakraborty não visitou qualquer dos templos nem presenciou uma única das imagens sobre as quais fala com tanta certeza, numa interpretação subjectiva e historicamente enviesada. De facto, só vemos aquilo que queremos ver.
Joaquim Magalhães de Castro


 Follow
Follow