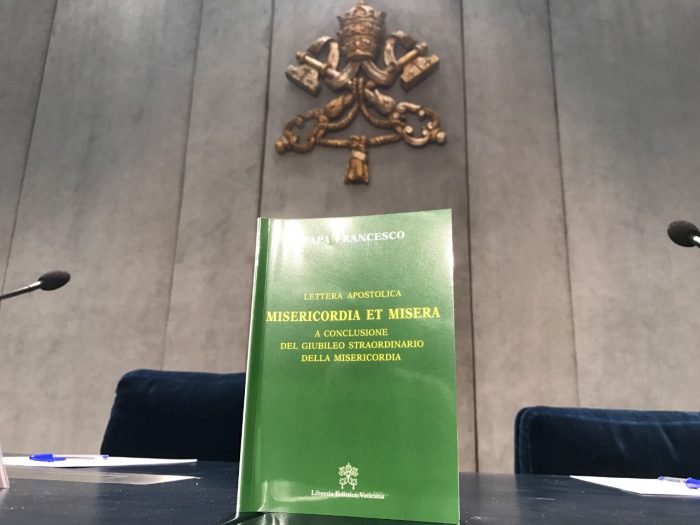A gente com “olhos de gato”
Reservo a manhã do meu derradeiro dia em Mrauk U para fazer uma visita geral e para isso conto, uma vez mais, com a ajuda do simpático recepcionista Nyi Nyi Htun. Enquanto aguardamos Soe Nay Linn, o nosso já conhecido condutor de “tuk-tuk”, vai sublinhando numa folha de A4 com o mapa da cidade fotocopiado, disponível no balcão da recepção, uma série de locais de interesse, aproveitando para referir «a ocupação japonesa do templo Dukkathein durante a Segunda Guerra Mundial» e a existência de uma comunidade cristã, «umas quantas famílias apenas», nas imediações de Bandel, «que todos os anos celebram uma grande festa». Entusiasmado, pergunto como quem faz uma afirmação se é do Natal que se trata e ele confirma, garantido Soe Nay Linn, entretanto chegado, que me conduzirá lá no caminho de regresso, concluído o périplo agendado. «A casa dos meus pais é muito perto daí», diz. Foi como se me tivesse lido o pensamento: tencionava pedir-lhe isso mesmo. A vontade de visitar a sua família e confirmar assim a minha suspeita inicial sairá reforçada quando ouço Soe dizer que o avô assumia «a sua origem portuguesa». Não sei se o faz para me agradar ou se mente descaradamente. Pouco importa. Logo verei.
Agora há que ir direitinho, e já tarda, ao designado “Portuguese Depot”, uns bons três quilómetros a sul da cidade. Minutos depois, após deixar para trás o cais de Bandel, seguimos, quase em linha recta, por uma estrada pavimentada a cimento (não deve ter sido há muito tempo) com casario pobre de um lado e do outro. Pobre mas imensamente digno, posto que todas as casas dispõem de pátio exterior, sombreado por árvores e arbustos, vedado da estrada por esteiras de bambu entrelaçado. «Aqui vivem pessoas de origem portuguesa», atira Soe. De facto, parece-me pouco usual a tez clara desta mulher que estende a roupa, ou o fácies sorumbático daquele homem alto pedalando uma velha pasteleira. E não, não é uma questão de auto-sugestão. A evidência é enorme e os factos históricos garantem-me de que de outra forma não poderia ser. Foram muitos anos de permanência constante de gente portuguesa, e depois luso-arracanesa, constituída em comunidade alicerçada, como deixam bem claro os relatórios dos feitores holandeses da Companhia das Índias Orientais, vulgo VOC. Desde pelo menos a década de 1630, há notícia de uma estreita cooperação entre a VOC e os líderes da comunidade portuguesa de Arracão. O arroz importado de Chatigão, por exemplo, era trazido nos navios do capitão-mor Manuel Rodrigo Tigre, e os passes fornecidos pela companhia holandesa permitiam que esses homiziados pudessem negociar sem serem molestados em todo o Oceano Índico. Tigre e outros líderes da comunidade portuguesa, como Diogo de Sá, seriam, inclusivamente, autorizados a fretar navios da VOC com destino a Batávia. “Os bens a serem enviados para Dianga”, esclarecem os relatórios, “ouro, rubis e pedras preciosas menores, como esmeraldas cortadas em bruto”, eram trazidos pelos portugueses locais.
Ao longo de todo o percurso não cruzamos com um único automóvel, jipe ou carrinha, aqui, luxos reservados a muitos poucos. Apenas vejo Bajajs, motociclos e os característicos “sidecars”; e, é claro, gente a pé, o que me dá oportunidade de constatar com satisfação a fidelidade dos homens locais ao longyi tradicional. «Esta é a estrada mais comprida da cidade», prossegue Soe no seu Inglês de dificílima compreensão. Corresponde, a dita, aquela traçada por Emil Forchhammer no seu mapa quando se refere ao lugarejo de Mahati, dez milhas a sul de Mrauk U, “em tempos do tamanho de uma cidade considerável”. Assinalava o investigador os restos de tijolos e lajes de pedra com que se pavimentara, durante o reinado de Min Bin, estradas várias assim como os muros de tanques e poços colectivos cuja origem os actuais habitantes desta região, como em tantos outros locais do planeta, atribuem ao engenho e iniciativa dos portugueses. Corresponderá Mahati ao local onde foi erguido o dito “armazém português”, mesmo com exagero na distância indicada pelo linguista helvético?
Para fazer conversa mole, Soe Nay Linn queixa-se das raparigas locais que sempre o rejeitaram devido aos seus olhos, e eu abismado fico, pois deveria ter acontecido precisamente o contrário, dado o exotismo que a mestiçagem sempre proporciona. «Diziam que eu tinha olhos de gato e por isso não confiavam em mim», confidencia ele. Mas isso foi há uns anos. Entretanto, encontrou a mulher certa e a ela se quer dedicar, não lhe fazendo diferença, por isso, o que pensam as mocetonas locais. Já com as estrangeiras, a história é outra. Mostram-se fascinadas pelo tom verde-azeitona dos seus olhos, dizendo-lhe eu que doravante pode mencionar-lhes as suas raízes lusitanas, acabando Soe por admitir: «Se fosse solteiro, não pensava duas vezes: casava-me com uma estrangeira».
Do lado direito vai surgindo um terreno militar. Vários quilómetros de muro até atingirmos uma das entradas. «O exército apodera-se sempre de grandes áreas de terreno», comenta Soe. «Às vezes não me deixam passar… Mas se o cliente é estrangeiro, não costuma haver problema». Como não vejo qualquer uniforme à vista vou filmando e fotografando, mais ou menos descontraidamente, até que Soe, apercebendo-se do meu descuido, exclama, assustado: «Por favor, não filme aqui!». Malgrado a mudança política, o exército continua a deter todo o poder e os cidadãos temem-no como o temiam no malfadado tempo dos generais. Ou seja, os gulosos e prepotentes do costume continuam de batuta na mão. Como diz o ditado: “os velhos hábitos tardam a esvanecer-se”.
Joaquim Magalhães de Castro


 Follow
Follow