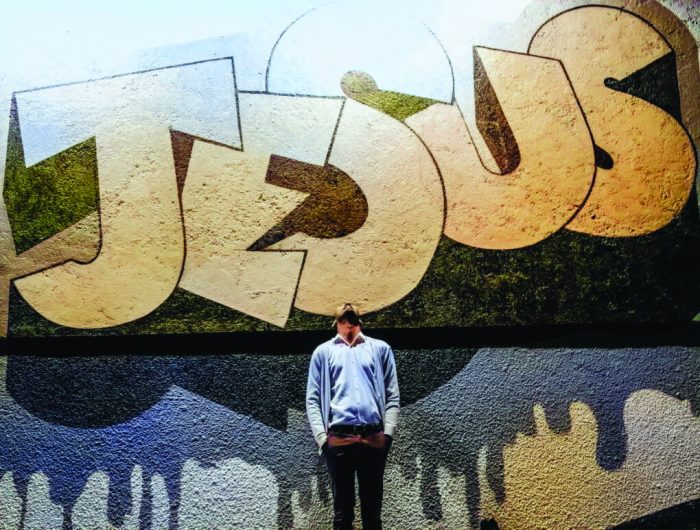Os luso-descendentes de Akyab
Na rua dos joalheiros, concentrados à frente de pequenas balanças, artesãos pesam o ouro e a prata e acertam a liga à filigrana, e eu deparo com o primeiro restaurante de jeito. O Best Coffee 2 é, a avaliar pelo nome, a segunda iniciativa empresarial de Khin, o jovem empreendedor que masca betel o tempo todo e termina quase todas as suas frases com um superlativo “absolutely”. «Quando chegar a Mrauk U logo verá o que os vossos antepassados por lá fizeram», diz ele, realçando o Palácio Real – «agora apenas uns muros, alguns tijolos e pedras» – que assegura ter sido «construído pelos portugueses». Prova disso é o facto de estarem guardadas em Portugal, «num museu ou algo assim», as plantas originais dessa construção «que os nossos arqueólogos pediram aos colegas portugueses». Confrontado com um espanto que não consigo esconder o arracanês tempera de imediato tão peremptória afirmação: «pelo menos é o que dizem as pessoas de cá…».
Graças aos mais antigos, e esses costumam ser de fiar, inteirou-se, ainda criança, do muito que deve esta terra aos portugueses, aproveitando o ensejo para mandar umas quantas afiadas farpas à outra gente que por aqui passou, a começar pelos birmaneses. Todo o arracanês que se preze considera-os invasores. «Andam para lá a escavar não sei bem o quê… e até construíram um edifício administrativo nos terrenos do palácio, veja lá! Não gostamos, é claro, pois esse é um importante local da nossa memória colectiva. Estamos fartos de ter quem decida por nós! Primeiro foram os britânicos, 76 anos, embora tivessem deixado obra feita. Depois vieram os japoneses, que só destruíram e roubaram: imagens de Buda, ouro, joias».
Mal informado anda o amigo Khin… Certamente nunca terá ouvido falar do “Comité do Prémio” constituído em Mandalay, após a anexação da Alta Birmânia, com o intuito de vender ou despachar ao desbarato todos os bens dos derrotados governantes birmaneses. Itens facilmente transportáveis como o ouro, as joias, a seda e os ornatos seriam enviados para a Grã-Bretanha como presentes para a Família Real e para os notáveis desse país. O resto foi leiloado localmente e acabaria nas moradias dos oficiais do exército e da marinha ou na mala do ocasional viajante europeu. Objectos danificados ou de pouco valor foram derretidos e transformados em lingotes de ouro, enquanto inúmeros itens de cariz religioso, incluindo onze imagens de Buda em ouro, permaneceriam arrecadados num museu em Calcutá, para serem restaurados e, se solicitados mais tarde, retornarem aos descendentes da realeza birmanesa, o que nalguns casos viria a acontecer. Máquinas, navios a vapor e utensílios de valor prático, esses, foram automaticamente transferidos para o Governo britânico, ou adquiridas ao preço da chuva. As munições, incluindo armas de ferro fundido, canhões e armas de campo, seriam em grande parte destruídas ou atiradas ao rio. Assim, e tendo em conta o sucedido, não me parece que restasse grande espólio para satisfazer o apetite voraz dos soldados nipónicos…
Levantada a ponta do véu desta cidade habitualmente utilizada como trampolim para Mrauk U e, por conseguinte, menosprezada pelo viajante comum, entro em contacto com Maung Saw, amigo da senhora Susu e dono da galeria Rakhine Nyantfoou. Como quem guarda um ás de trunfo na manga, o afabilíssimo pintor diz-me que me irá apresentar à pessoa certa, vizinho seu, «investigador da história do Arracão». Mas antes disso faz questão de me levar a um café para que prove um dos legados gastronómicos deixado pelos portugueses: «– Gosta de pudim?». Por acaso não sou apreciador, colando-se a mim como uma luva a máxima “Joaquim tira a mão do pudim”, mas como é que posso eu, aqui, a dezenas de milhares de quilómetros da mátria, negar a excelência dessa sobremesa inventada por um abade português e cujos ingredientes originais – açúcar, gemas, água e toucinho de porco – só após a sua morte seriam revelados? «– Sim, gosto muito!», minto. O remate seguinte parece-me perfeito: e não é que o pudim (e também uma fatia de pão-de-ló) nos é servido por uma adolescente encaixável, sem tirar nem pôr, numa qualquer aldeia ou cidade portuguesa!? Atento, Maung Saw antecipa-se: «– Ela é uma dos vossas, não acha?». Claro que acho. Ela e o rapaz que serve a uma outra mesa. Tenho o privilégio de os fotografar deixando-os um pouco envergonhados com a atenção prestada. Tenho a certeza que jamais alguém lhes apontou o seu distinto fenótipo. Após um olhar mais atento, também o fácies de Maung Saw revela nítidos traços europeus, neste caso bem diluídos na predominância do gene mongol. «– Aqui neste café», comenta ele a propósito, «estão representadas as três tipologias genéticas que compõem o povo arracanês: o ariano, o mongol e o dravidiano». Concordo e acrescento: «– Está a esquecer-se do elemento português…». E, ele, rindo-se: «– Sim, sim, claro. Temos por aqui também muitos descendentes de portugueses». E di-lo sem grande convencimento, mais para me agradar, pois a memória da passagem dos portugueses por estas bandas não passa apenas disso: simples memória.
Joaquim Magalhães de Castro


 Follow
Follow