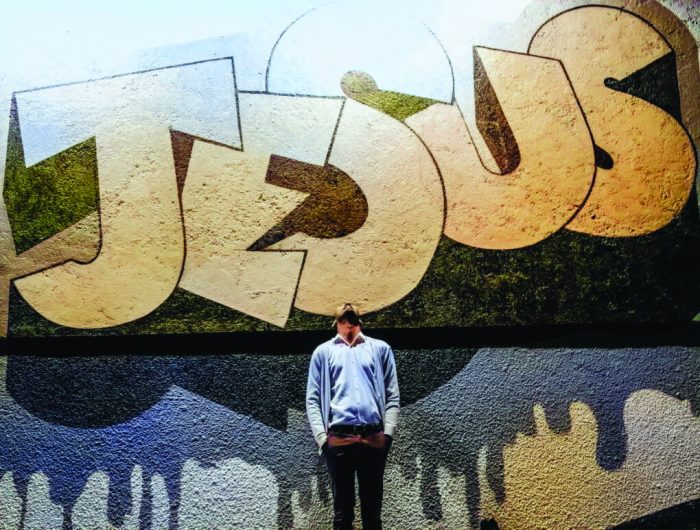A almedina de Safim
No lado sul da cidade a encosta é bastante escarpada, com jardim, café com terraço e uma minúscula piscina a vedarem o acesso ao abismo, talvez uns quarenta metros. O facto, porém, não impedia as pessoas de se aproximarem dele perigosamente. Havia até quem fizesse piqueniques com os pés lançados sobre o vazio.
Olhando em direcção à cidade, reparei na torre de uma mesquita que bem podia ter sido outrora uma torre de igreja. Mais um caso de um templo adaptado à “mudança de senhores”. Nesse domínio, passou-se exactamente o mesmo, no lado de cá e de lá do estreito de Gibraltar. Também a dita “catedral portuguesa”, escondida numa das vielas do “souq”, é de estilo manuelino. Dela resta uma sala de estilo gótico com a cruz de Cristo e elementos marítimos incrustados nas paredes e no tecto abobadado.
Safim passou a considerar-se vassala de Portugal desde a tomada de Arzila e Tânger, no reinado de D. Afonso V, colocando-se ao lado do aguardado vencedor num tabuleiro de muitas peças onde se jogava todo o tipo de interesses. Eram ferozes as rivalidades, tanto entre as famílias poderosas autóctones como entre os capitães portugueses. O certo é que os primeiros optaram por um protectorado estrangeiro, cenário repetido séculos mais tarde, em moldes bem diversos, quando os franceses passaram a gerir os destinos do Marrocos moderno.
Sabe-se, por um diploma de 1488, que o alcaide da cidade reconhecia o “rei de Portugal como seu senhor, por si e por seus concidadãos, presentes e futuros”, e prometia pagar tributo de trezentos meticais de ouro, ou o seu valor em mercadorias. Como símbolo dessa suserania, recebia “a bandeira real e um atabaque” entregues pelo rei. Como contrapartida, tanto o alcaide como os moradores da cidade circulavam sem restrições em todos os “domínios portugueses daquém e além-mar”, podendo aí negociar em pé de igualdade com “os outros seus naturais ou vassalos”.
Na realidade, todos esses lugares funcionavam como pequenas repúblicas, possuidoras de grande autonomia. Foram os conflitos entre as famílias locais que permitiram a ocupação definitiva da cidade pelos portugueses, sem depararem com qualquer tipo de resistência. Foi quase um passeio, liderado por Diogo de Azambuja, até ao porto, onde tínhamos feitoria. A ela acrescentaram-lhe algumas casas e, em seu redor, se levantou fortaleza. Azambuja juntava assim às capitanias de Mogador e de Aguz a da Safim, deixando nesta cidade um legado de abusos, violências e crueldades que conduziriam ao seu afastamento poucos anos depois.
Mas a personagem de Safim por excelência é Nuno Fernandes de Ataíde, nomeado capitão em 1510. Sobre ele escreveu David Lopes: “A sua capitania é a página mais assombrosa da história luso-marroquina; foram seis anos de vida trepidante de cavalgadas e combates; por isso foi alcunhado de ‘nunca está quedo’”. Mas ele quedar-se-ia, vítima de uma flecha inimiga, em 1516.
A almedina de Safim é composta por vielas entrecruzadas, mais largas, menos apertadas, permitindo, por vezes, que as casas quase se toquem, deixando, porém, espaço de passagem para o transeunte graças a arcadas ogivais projectando sombra, ou mesmo escuridão, em túneis labirínticos que se subdividem e partem em diferentes direcções, convidando a descobrir para um lado, a descobrir para o outro. O panorama é sempre diverso. Crianças entretidas em brincadeiras, velhos atentos aos ofícios (não pareciam correr o risco de desaparecer tão cedo), mulheres conversando à porta de casa ou à janela. Enfim, a almedina encaixava na perfeição no extenso conjunto de muralhas que a circunscrevem. Curiosamente, nunca me senti intruso. Passeei sempre à vontade e raras foram as vezes que me negaram a fotografia.
Casadas ou solteiras, as mulheres de Safim mostravam um atrevimento raro entre as marroquinas. Fui convidado a visitar diversas casas, embora em duas ocasiões a cortesia sugerisse negócio. Numa delas, entrei numa sala na companhia da anfitriã e logo, para minha surpresa, surgiram duas mulheres bastante mais jovens. Perguntou-me a dona de casa: «Qual delas deseja?». Noutra ocasião, a proposta foi ainda mais directa, e não necessitou de recatos de interior: «Quer comprar esta casa?». Eram uns quantos milhões de dirhams antigos. «Quanto é isso em dinheiro novo?», questionei, por simples curiosidade.
No decorrer de outra deambulação chamou-me a atenção certa torre muralhada junto a um fontanário de bairro. Como se me adivinhasse o pensamento, um ancião com ar de monge que ali estava dispôs-se a mostrar-me o caminho para aceder ao seu interior. Ao vê-lo remover uma rede de pescador que assinalava a entrada para a muralha, ao nível do telhado da sua casa e das casas vizinhas, presumi que procurasse fazer algum dinheiro com isso.
O panorama visto do cimo da torre, fosse em direcção ao mar ou para a parte alta da cidade, era magnífico. O velho esperou pacientemente que regalasse o olhar e tirasse fotos à vontade. No final, em vez de me pedir dinheiro, convidou-me a entrar em sua casa, para beber chá. Desarmou-me por completo, devo dizê-lo. E logo se esfumaria essa terrível preconcebida ideia de estrangeiro sempre à espera de contrapartidas, sempre na retranca… A casa do velho era um verdadeiro refúgio de “hobbit”, com um minúsculo pátio interior e quatro pequenas salas em redor onde crescia uma romãzeira. Atencioso, o avozinho, com idade difícil de adivinhar, chamou o filho para ajudar a comunicar, pois ele falava apenas o Árabe.
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow