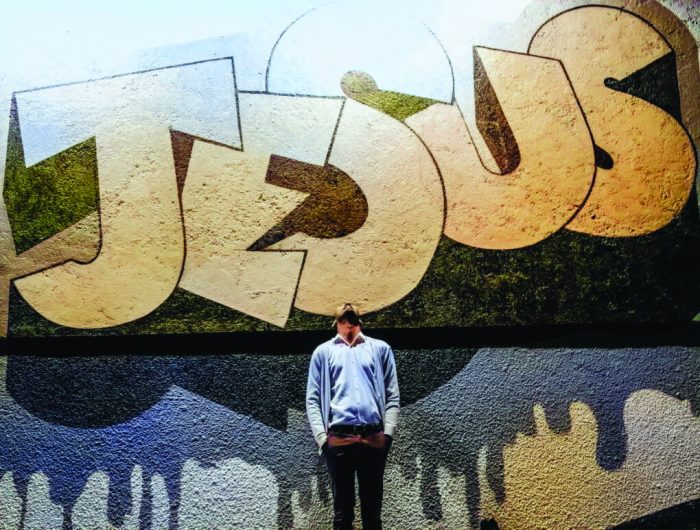Joget e keke-lapiz
Após anos de viagens sem fazer um único registo fotográfico dos locais por onde ia passando acostumei-me, de uma década a esta parte, a não sair à rua sem a máquina fotográfica. Durante a minha estada em Kuching, capital do Estado malaio de Sarawak, no único fim de tarde em que quebro essa regra eis que me chegou aos ouvidos o que parecia ser um coro de mulheres da Beira Alta. Foi o suficiente para me levar de novo à beira-rio, ao tal coberto comunitário onde nos dias antecedentes ao Ano Novo Lunar me deliciara com excelentes interpretações de música tradicional chinesa a cargo de uma orquestra juvenil que ao longo de uma impecável apresentação fizera rodar maestros por devir, todos muito jovens. Pois bem, a cantoria desse dia era outra e teve o condão de me transportar para o meu país. Cedo me apercebei que estava perante uma sessão de “joget”, convívio popular entre malaios envolvendo dança e música, e por isso corri ao meu quarto na Waterfront Lodge – porventura a mais genuína pensão da velha Kuching, edifício centenário, antigo depósito de papel transformado em unidade hoteleira – para buscar a máquina fotográfica e ir a tempo de registar a segunda canção. Tive sorte, pois, fosse na sonoridade ou na coreografia, a “dansa” – como dizem por estas bandas – evocava as danças de salão portuguesas de outrora. No palco, o típico ensemble de “joget”: um violinista, dois percussionistas – um deles soando um gongo – e três cantoras. Enleadas ali, muito naturalmente, três tradições musicais: a portuguesa, a árabe e a dos povos autóctones, representada pelo dito gongo. Os restantes temas tinham como denominador comum uma sonoridade arábica (aquilo que na Malásia se designa de “zipan”) embora o compasso final, em ritmo mais acelerado, fosse, nesse como nos temas seguintes, nitidamente lusitano. O espectáculo terminou com o mais popular dos “jogets”, o chamado “joget lambak”, ao qual o público é habitualmente convidado a participar.
Muito comum na Malásia e na Indonésia, o “joget” tem origem no “branyo”, dança inspirada no corridinho algarvio introduzido no arquipélago malaio ao longo do século XVI e ainda hoje extremamente popular entre os luso-descendentes de Malaca, sobretudo os mais velhos que o denominam também de “chakunchak”. Tecnicamente falando – essa dança é estudada pelos musicólogos – existem quatro tipos de “branyo”. São eles: o “jingli nona”, o “papai canji”, o “che corte” e o “sarampeh”. Os dançarinos masculinos usam trajes ocidentais, enquanto as dançarinas envergam a tradicional cabaia ou sarongs de batik.
Por outro lado, a “farrapeira”, com origem numa dança de roda da região da Bairrada, é mais alegre ainda, e por isso se popularizou entre os jovens. É executada por casais vestidos com trajes folclóricos portugueses e com recurso a instrumentos musicais modernos, como guitarras e pandeiretas.
O “joget” também cresceu em popularidade junto da comunidade luso-malaio de Singapura, após a sua introdução em 1942. A dança é acompanhada por um conjunto composto de um violino do mundo ocidental, um gongo nodoso da Ásia, uma flauta (opcional) e pelo menos dois instrumentos de percussão típicos do Sudeste Asiático, a rebana e o gendang. O ritmo da música do “joget” é bastante acelerado e transmite sensações que nos remetem para brincadeiras entre parceiros.
Na Indonésia, o termo “joget” é geralmente aplicado a qualquer forma de dança de rua popular, como é o caso da muito popularizada música “dangdut”. Na Malásia existe até um “software” de produção local nomeado após essa dança, ou seja, o “joget”.
Não sei por que sou assim, mas estas coisas mexem comigo. Por isso lá estava eu, na primeira fila, junto à mesa dos ilustres da terra, bem composta com bebes e comes. Água mineral, leite de soja Yeo e o sempre indispensável Milo. A Malásia é, de longe, o maior consumidor de Milo, e eu, apreciador da bebida, admito: é a única concessão que faço à Nestlé. Para acompanhar as bebidas, uns biscoitos em forma de rosca (como os que me trazia o meu pai da Vila da Feira) conhecidos no tempo dos descobrimentos como “pão do mar”, e o local keki-lapiz (queque-lápis), que é, nada mais nada menos, que uma simples fatia de pão de ló estriada com diferentes cores, daí o nome lápis. Lápis de cor, neste caso. Muito popular na Malásia, o keki-lapiz é uma das milhentas adaptações asiáticas dos nossos pão-de-ló e rolos.
Assim, de uma assentada, um privilegiado momento de emoção colectiva que juntava elementos das três mais importantes comunidades – chineses, malaios, indianos, tribos autóctones, isto além de uma dúzia de turistas ocidentais – estava perante dois elementos de influência lusitana. Aliás, o normal é tropeçarmos nestes legados sempre que nos movimentamos por estas paragens. Se os nossos governantes tivessem a mínima noção do potencial deste género de pormenores e agissem em conformidade, direccionando a sua política para o resgate de tais resquícios históricos, certamente Portugal teria uma outra dimensão e importância no panorama internacional.
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow