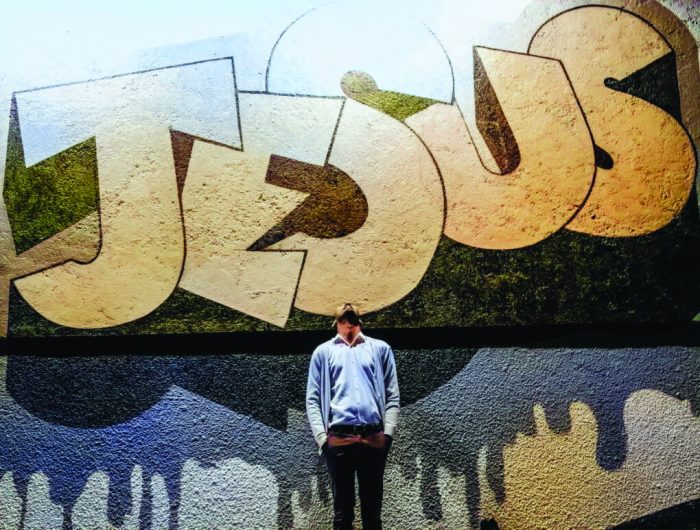O Factor Étnico
Em Timor nada é o que parece. Nem nada acontece por acaso. Tão pouco surpreendem os constantes e confusos conflitos inter-étnicos que deixam baralhado o visitante menos informado. Mesmo após a chegada dos portugueses, em 1514, em busca do sândalo, e até às campanhas no interior do governador José Celestino da Silva, já nos finais do século XIX, mantinha-se constante o estado de guerra entre as diversas etnias que habitavam a ilha, sendo o poder exercido, nesse tipo de sociedade, através das linhagens encabeçadas pelos liurais, os chefes tribais. A dança Loro-sa’e, por exemplo, é uma dança guerreira que celebrava uma vitória a qual, outrora, terminava com o corte das cabeças aos prisioneiros inimigos. Essa rivalidade étnica é hoje um verdadeiro calcanhar de Aquiles numa nação que teima em se encontrar.
Os substitutos da Indonésia na aplicação da velha e matreira fórmula política do “dividir para reinar”, vão aproveitando muito bem essas diferenças. O objectivo final chama-se petróleo. Um petróleo que Mari Alkatiri soube bem defender, pendendo a política externa durante a sua governação para a China. Mais tarde, com José Ramos Horta às rédeas do poder, aparentemente mais acessível esteve a porção de leão a que se dava ao direito o vizinho de baixo, que durante largos anos hospedou o laureado com o Nobel. Já em 2002 Ramos Horta, então ministro dos Negócio Estrangeiros, proferira: «não há dois países mais importantes para Timor Leste que os nossos vizinhos mais próximos, a Indonésia e a Austrália».
E dado que nada é o que parece, a quem verdadeiramente interessava a instabilidade político-social em Timor? À Austrália, seguramente. Há relatos que apontam para o desembarque no aeroporto de Díli – tempos antes dos conflitos iniciados com a revolta dos ex-militares liderados por Alfredo Reinado – de vinte e tal jovens de cabelo curto, trajando à civil, que se apresentaram como empresários e que mais tarde desaparecerem no interior do País. Nunca mais ninguém deles ouviu falar. Agentes destabilizadores? José X., um proeminente membro da comunidade timorense residente em Macau que requer o anonimato, não tem dúvidas sobre isso. Tão pouco ficaria surpreendido se a notícia que circulou em Timor, de que uns meses antes da ocorrência dos incidentes os australianos tinham tentado aliciar o general Matan Ruak para encetar um golpe de Estado, tendo em vista o derrube do Governo, viesse a ser confirmada como verdadeira.
A Austrália tem grandes planos para Timor. Sempre teve. Está a saber aproveitar-se muito bem do descontentamento popular provocado pela miséria generalizada e uma taxa de desemprego acima dos 50 por cento que as receitas do petróleo, praticamente a totalidade do orçamento de Timor, e os dois mil euros por habitante de ajuda externa não conseguem mitigar.
José X., porém, não acredita que o major Alfredo Reinado fosse, como se comentava, uma peça no xadrez dos interesses australianos. Afinal, «limitou-se a obedecer a ordens». Sabe, de fonte judicial idónea, que Reinado estava disposto a entregar as armas. «Por sugestão de Xanana desceu da montanha para entregar as armas, ainda dentro do prazo previsto». Também sabe que na prisão de Bécora, todos, detidos e guardas prisionais, consideravam Reinado um herói. «Não admira que tenha escapado da forma como escapou. Entrou com dezanove homens e saiu com cinquenta. É obra».
Além disso, se ele era militar, «onde está ilegalidade em ter em sua posse armas?» Este foi, aliás, um dos argumentos utilizados em sua defesa. «Contra o major não havia pernas jurídicas para andar». Mais tarde, claro, a situação seria diferente, pois passou a estar na situação de foragido, refugiado na selva, «certamente em território loromanu», que é o maior quinhão, pois apenas três das treze províncias de Timor Leste são de jurisdição lorosae.
CÓDIGOS PRÓPRIOS
«Ao contrário do que se diz por aí, em Timor não existem tribos mas sim etnias», assegura José X. Os timorenses da parte leste da ilha, os lorosae, também conhecidos por firakus, argumentam que foram eles que encetaram a guerra de libertação contra os indonésios.
José X, no entanto, aponta-lhes baixos níveis de instrução, facto que os torna «mais influenciáveis». Por essa razão o Governo de Alkatiri – que, curiosamente, era essencialmente constituído por loromonus – «tentou utilizá-los para assegurar o poder a cem por cento, eliminando toda a oposição». Daí a suposta «posse e distribuição de armas, tentativa de revolução e organização secreta», crimes de que foi acusado Rogério Lobato, o ex-ministro da Administração Interna.
Esse alegado favorecimento gerou um clima de desconfiança mútua. «Para além das armas», recorda a nossa fonte, «havia listas com nomes de pessoas a serem promovidas ou eleitas, o que no fundo era uma forma velada de indicar os nomes dos que deviam ser abatidos». Em Timor existem muitos desses códigos. O mais comum era o aris mota, “ir tomar banho à ribeira”, um eufemismo que indica o acto e o local de execução de alguém indesejável.
José X. admite que este é um divisionismo estúpido. Que começou por ser entre militares e polícias, mas que o factor étnico depressa transformou em divisionismo entre polícias e militares lorosaes contra polícias e militares loromonus. O incidente em Díli no render da guarda já era mais uma questão étnica. Segundo ele, Fernando Reis, polícia português destacado nas forças das Nações Unidas, afirmara na altura que fora um milagre não ter morrido mais gente.
Para além do factor étnico, há que ter em conta a condição social da população em geral e, em particular, dos ex-combatentes. «Numa terra onde não há pão é muito fácil estar contra alguém, ou pôr alguém contra alguém», diz José X.
Criou-se um fosso na sociedade timorense que vai ser difícil de ultrapassar. O antigo representante das Nações Unidas, Sérgio Vieira de Melo (como sabem, assassinado num atentado à bomba), chegou a ser acusado de ter “desmanchado” as Falantil e de não ter incluído no novo exército elementos da resistência, no fundo o mais importante eixo da coesão nacional. Também lhe reprovavam o facto de ter recrutado oficiais da polícia que estiveram às ordens da antiga polícia indonésia.
Finalmente, e ainda no entender de José X., há que ter em conta a ineficiência do Governo «que contratou gente dos PALOP» com pouca experiência. E o pior é que o faziam «apenas para pagar favores políticos». Fariam melhor «se tivessem trazido profissionais de Portugal e do Brasil».
O CALDINHO IDEAL
São quatro os estratos rácicos que se encontram misturados na actual população timorense: o tipo vedo-australoíde, semelhante aos aborígenes australianos e aos vedás do Ceilão; o tipo papua-melanésia de caracteres negróides mas sem parentesco com os africanos; o tipo proto-malaio, que em Timor ocorre em cerca de 60 por cento dos habitantes; e, finalmente, o tipo deutero-malaio, resultante da fusão de populações mongolóides com os proto-malaios.
Há ainda os mestiços, alguns deles «profundamente anti-portugueses». Um problema de identidade, no entender de José X., que por vezes «roça o foro psiquiátrico».
Enquanto todo este caldo político-social fervia, o tão falado contingente da UNMIT, que reunia efectivos de onze países, continuava às ordens dos australianos, que tinham no terreno cerca de dois milhares de homens, «funcionando praticamente como uma tropa de ocupação». Para quem integrava essa organização, a missão em Timor era, acima de tudo, um bom emprego. O facto de envergarem uma arma dava-lhes direito a um subsídio especial. Outro montante era-lhes atribuído por se encontrarem numa zona de perigo. «Por isso é que os soldados australianos gostavam de ser filmados ou fotografados em frente de casas a arder, ou a apontar a arma a alguém. Era tudo fita, para justificar o dinheiro que ganhavam», comenta José X. A maior parte das vezes nada acontecia, e quando acontecia, como fora noticiado, e até criticado, a tropa australiana praticamente não actuava. Interessava-lhes manutenção do actual status quo.
Altas patentes do exército australiano exprimiam-se em Tétum fluentemente. «Onde é que já se viu isto?», pergunta José X. «Darem-se ao trabalho de aprender a língua de uma nação com menos de um milhão de habitantes!?» Também o embaixador norte-americano dominava o idioma local. «Estava em todas. Baptizados, casamentos…» Foi até mesmo visto em frente ao Palácio de Governo na manifestação promovida pelos bispos na sequência da polémica decisão de tornar a religião e moral disciplina de opção. «Uma atitude, convenhamos, não muito ortodoxa para um diplomata», conclui.
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow