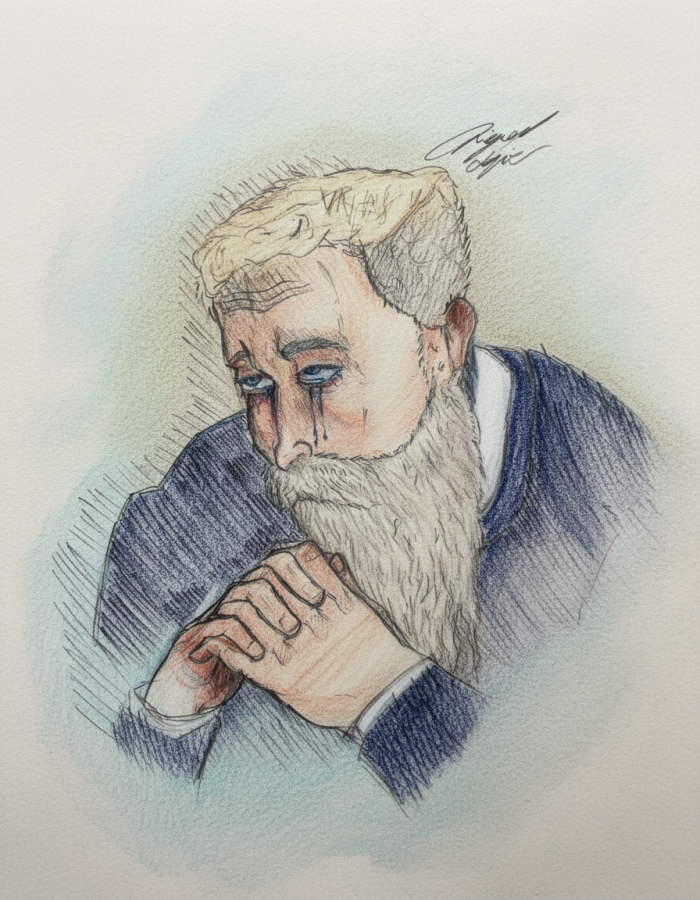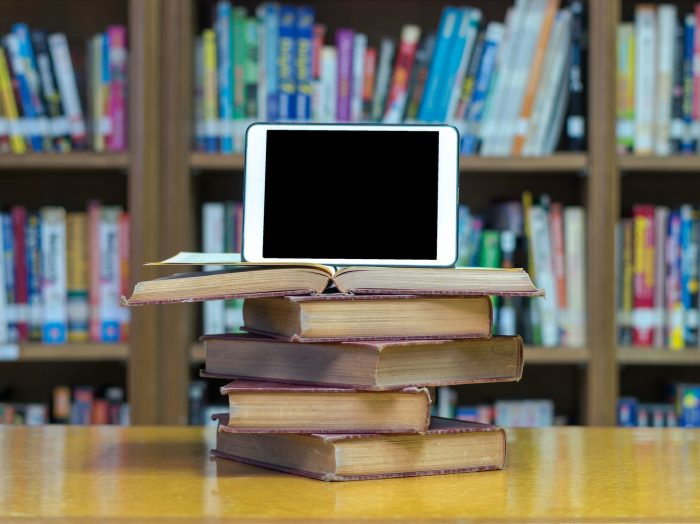O Pietismo – IX
Para muitos, o carácter mais prático do Pietismo impede que o mesmo seja considerado um movimento teológico, mas não é de todo assim. O Pietismo, mesmo privilegiando a piedade pessoal sobre o respeito pelos dogmas, não exclui pontos de contacto com a teologia fundamental. Pode não ser uma tendência teológica, mas sim uma sensibilidade particular, estribada na experiência pessoal, mas marcou o pensamento luterano, protestante mesmo.
Houve mesmo um grande acolhimento em vários sectores luteranos, bem como em meios intelectuais em relação ao Pietismo. Esta sensibilidade acabou por revelar, na sua implantação, que afinal a Igreja oficial e a teologia não estavam assim tão profundamente implantadas no povo como se supunha e o reconhecimento desse facto desencadeou a procura de uma aproximação às necessidades e desejos da época. Além dessa tomada de consciência do mundo e da procura deste, o Pietismo, ao desafiar a “escolástica” pós-Reforma (luterana) e combater a sobrevalorização dos credos e dogmas, abriria caminho para novas pesquisas teológicas nas quais a Bíblia foi eleita como o primeiro campo de trabalho, ao apresentar novos pontos de vista e colocando questões e problemas, mas todos com explicação ou vias interpretativas, não ficando na mera especulação mistérica.
Todavia, estes estímulos e desafios não produziram mudanças marcantes na teologia luterana, em boa parte porque o Pietismo não era um movimento teológico, mas sim uma forma pragmática de se viver a fé. Mas a sua influência era cada vez mais sentida, constituindo-se como uma forma preliminar para o renascimento espiritual no Século XIX, aquilo que se designa normalmente de “Revival” religioso e espiritual, particularmente nas Igrejas da Reforma, protestantes, claro.
O Pietismo ajudou a decompor a imobilidade e falta de abertura por parte da teologia luterana mais ortodoxa dos Séculos XVII e XVIII, mas também não deixou de criar desinteresse em alguns dos que o abraçaram entusiasticamente. Muitos destes estavam insatisfeitos com o pouco apreço pietista pela natureza e importância do conhecimento, acusando-o de incapacidade em perceber o conceito e objectivo da teologia, dada a ênfase que conferiam à pregação como um “máximo” de formulação teológica. Kant foi um dos que abandonou em parte o Pietismo, que se oferecia a muitos intelectuais como algo antitético face à teologia.
UM CRISTIANISMO VIVO E PESSOAL
Mas o Pietismo conquistou muitos luteranos, muitos mesmo. E chegou ao “poder”, ou seja, tocou forte na hierarquia social, nos meios governamentais. Mas quando aí “chegou”, ao poder, gradualmente mitigou as suas basilares reivindicações de liberdade individual, que antigamente enfatizava. Assim, rapidamente perdeu em interioridade e declinou para o externalismo, a instituição e a formalidade, caindo na letargia. Mas sem dogmas, ou pelo menos estavam bastante diluídos e menorizados, depreciados até. Os documentos dogmáticos não eram atacados de forma explícita, mas eram preteridos em relação à ênfase colocada pelo Pietismo na vida cristã e no uso da Bíblia como princípio e objectivo da fé. O dogma, por isso, esbateu-se na insignificância.
A relação dos fiéis com a Igreja Reformada estava posta em causa, quando o Pietismo sublinhava como essencial um Cristianismo vivo e pessoal, que não se limitava aos membros da Igreja Luterana. Mas, por outro lado, é inegável que a ênfase excessiva do Pietismo na religião pessoal poderia levar a uma desvalorização das diferenças que separavam o Protestantismo do Catolicismo, uma tendência que pode ter encontrado apoio no sistema educacional de Halle, de várias maneiras.
No entanto, o Pietismo não se deixou levar por essa mitigação de diferenças e assumiu o seu carácter essencialmente protestante, com muitos dos seus membros, em particular o fundador, Spener, a jurarem-se inimigos declarados da Igreja Católica. Em 1676, por exemplo, exortou mesmo o Príncipe Eleitor a não fazer concessões ao Papa, condenou a revogação do Édito de Nantes em 1688 e manifestou as suas mais acerbas críticas às tentativas do teólogo católico e diplomata, Cristóbal de Royas y Spínola, franciscano (1626-1695), de se empreender a união de protestantes e católicos, o que não despertou simpatia em Spener.
Em 1694, como porta-voz do clero de Berlim, Spener demonstrou o método de resistir com mais eficácia a todas as tentativas unionistas da Igreja Católica: a sua atitude em geral em relação à comunhão latina era tão intensamente hostil que tudo nele era anti-Roma. O exemplo de Spener foi geralmente seguido tanto em Halle como em Württemberg, e não só. Mas também esta ortodoxia luterana, que então atingia o seu apogeu, se foi uma das causas do surgimento do Pietismo, foi também o motivo de muitas conversões da Igreja Luterana para a Católica. Mas pode-se dizer hoje que o Pietismo não foi responsável por nenhuma dessas. Sem radicalizar o Luteranismo, criou uma espécie de “válvula de escape” na ortodoxia formalista e institucional luterana, que fez com que muitos em vez de se afastarem da Reforma, enveredaram pela via pietista. Mas não se evitou que o Pietismo tendesse para o sectarismo, ao afastar-se dessa corrente ortodoxa, para evitar cair na mesma degradação da fé. Mas em finais do Século XVIII, inícios do Século XIX, todavia, quando o Iluminismo ofuscou o sectarismo, o Pietismo começaria a encetar aproximações a tendências católicas semelhantes.
O Pietismo foi também precursor da liberdade religiosa. Se pensarmos que o conceito de liberdade na fé e na consciência não teve expressão ou clareza, em geral, até ao Século XIX, encontraremos no Pietismo um papel importante no desenvolvimento da liberdade religiosa, na sua luta pela necessidade de ruptura em relação às restrições que os tratados de Augsburgo – este em 1555, no qual se reconheceu a legalidade do Protestantismo, permitindo a possibilidade de cada chefe de Estado alemão escolher a sua religião, ficando os seus súbditos obrigados a aceitar a sua escolha – e de Vestefália – 1748, que confirmava o essencial do anterior – impunham quanto a esse tema. Ou seja, não existia liberdade de escolha em matéria religiosa: tinha que se seguir a fé do príncipe e logo do Estado, sem liberdade religiosa. O Pietismo lutou contra essa coacção externa, do Estado em relação à fé e da Igreja Luterana em relação aos seus seguidores. Mas, como já se viu, a luta foi complicada, com o Estado sempre a assumir o direito de intervir em caso de desvios da Igreja estatal. O Pietismo criticou diversas vezes o direito de infracção desse princípio de territorialidade, anacrónico e desajustado. Uma compulsão religiosa que não fazia parte da sensibilidade pietista, mais favorável, sem dúvida, à liberdade religiosa, na qual foi pioneira.
Vítor Teixeira
Universidade Católica Portuguesa


 Follow
Follow