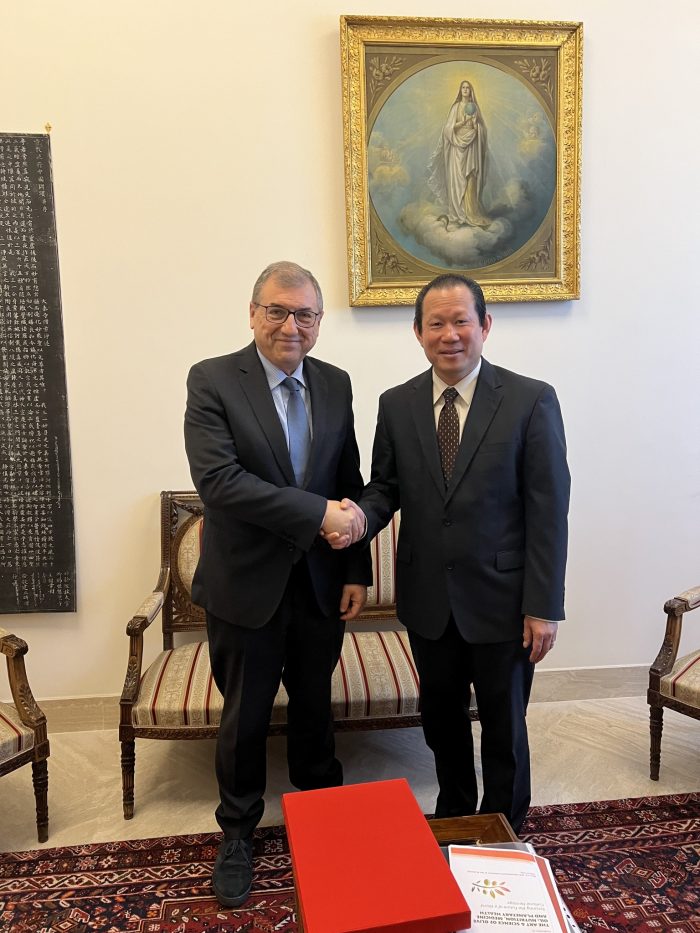Os dingis do Buriganga
Os quase quinze milhões de habitantes de Daca são, por si só, sinónimo de alta probabilidade de incidência de descontentes, daí que nas congestionadas ruas desta cidade seja comum cruzarmo-nos com manifestantes de muitos e variados pendões. Estavam à espera de quê? Este é um policromado ecrã de vidas inteiras esparramadas nas poeirentas e sujas redes viárias; vidas que improvisam a sobrevivência por entre os riquexós e as viaturas maltratadas. E no entanto, qual às de ouros fugido à cartada, ou seja, à amálgama de lataria e povo, com surpreendente regularidade somos prendados com magníficas carroças argênteas puxadas por parelhas ou quatro escanzelados e sofridos cavalos. Pobres dos bichos, sujeitos a tão ingrata e cruel tarefa tendo como única recompensa uns quantos fardos de feno ao mês e o providencial líquido sem o qual nenhum ser vivo chega longe. Nem por isso deixa de ser manso e terno o seu olhar, como de resto é terno e manso o semblante dos seus primos asininos por mais árdua que seja a lida.
Certamente condicionado pelo ofegante calor, o comum dos mortais apresenta-se aqui, e compreensivelmente, de rosto ocluso. Mas depressa se abre num sorriso quando solicitado, como acontece com um velho de longa barba tingida a hena, o que lhe confere uma tonalidade cor-de-laranja. Curioso, qual gaiato traquina, espreita-nos através das cortinas de um carmesim arroxeado, mais enfeite e não tanto guarida solar, que pendem do tecto do cubículo quadrangular, o âmago da vistosa carruagem, excelso símbolo da capital do Bangladesh. De resto, diga-se de passagem, único no género.
À direita, branca e amarela, a igreja dos arménios, irmãos de fé e de fisionomia da lusa gente, nossos aliados por vocação e com os quais inúmeras vezes éramos confundidos.
A caminho do terminal marítimo de Babu Bazar é interregno merecido os minutos despendidos na preenchida ponte sobre o Buriganga. Daí melhor se apreciam os dois barcos a vapor com pá de roda propulsora e conveses fechados com varandas e cadeiras – exóticas reminiscências dos cruzeiros da época colonial do Raj. Movimentam-se ao sabor da ondulação provocada pelo tráfego marítimo, embatendo por vezes noutras embarcações prestes ou já no acto de transporte de mercancia e passageiros. Há-os carregados de melancias e há-os cheios de areia, afundados com a peso até à linha de água. Há-os ainda com centos de fardos contendo não sei bem o quê e uns outros, mais largos e mais compridos, com bidões de plástico que me parecem vazios. Chega-nos, em surdina, o ronronante “re-pre-pre-pre-pre-re-pre-pre-pre-pre” provocado pelos gastos e improvisados motores. Aos ferries chamam-lhes “launches”, provavelmente derivado do vocábulo “lancha”. Os que a minha vista alcança aparentam estar estacionados, não se percebendo muito bem se para todo o sempre ou apenas a aguardar o dia e hora de largada.
Unem as margens do Buriganga miríades de pequenas embarcações, verdadeiros táxis aquáticos, manobrados por um homem à proa. Com as mãos movimenta o remo preso à amurada, e com um dos pés manobra o leme, quando o há. Por vezes embarca apenas um passageiro. Ei-lo, de pé, hirto, ar solene, guarda-chuva bem aberto e apontado para frente como quem empunha uma espada. Outras ocasiões, embarcam pares de mulheres identificadas à légua pelos coloridos saris. Não raras vezes, o negociante e respectiva carga amanhada em sacos de serapilheira. Ocasionalmente, uma família. Mãe, pai, infante, todos em versão descontraída, sentados no tabuado do barco como se estivessem a fazer um piquenique, com a melancia acabada de comprar e já talhada junto a eles. Melancia é, aliás, fruta que se recomenda, de preferência polvilhada com um fiozinho de sal para melhorar o paladar. Tudo comporta o pequeno e estóico “dingi” – assim se designam estas embarcações. Numa das margens, agrupadas e com lonas verdes a cobri-las, servem de local de repouso e sala de almoço aos seus proprietários e famílias, os ditos “majhees”, ou seja, barqueiros. À mão de semear, repousam em estendal as cobertas amovíveis, aglomerado de plásticos e panos, prontas a entrar em acção assim que a intempérie se manifeste. Na margem oposta, descarregam-se melancias às toneladas de um barco repleto delas e logo um mercado é ali improvisado. Aplaudo a pragmática iniciativa, pois assim desnecessário se torna o transporte de tão perecível produto.
Atravessada a ponte, mais melancias. Enormes, oblongas, listradas e suculentas. Amontoadas numa banca junto às mangas e às romãs e a fruta outra de importação, dessa acomodada em pedacinhos de espuma sintética: maçãs, laranjas e uvas, tudo com origem na China.
Única memória histórica visível, a pequena mesquita de Badamtoli Puranton Jame Masjid, de traça arquitectural mogol e em tudo semelhante à do forte de Lal Bagh e do Ahsan Manzil, residência oficial dos nababos de Daca, o afamado palácio de Rangmahal – “com um serralho com as mais bonitas mulheres do reino”, como nos conta Estêvão Cacela – actual sede do Museu Nacional.
Dá para imaginar como seria todo aquele circo humano, rio abaixo, rio acima, nos idos de Seiscentos. Visualizo-os, aos nossos dois jesuítas, de abalada para o Tibete, num barco provavelmente não muito diferente dos que em permanência vemos agora sulcar as águas moribundas do Buriganga.
Joaquim Magalhães de Castro

 Follow
Follow