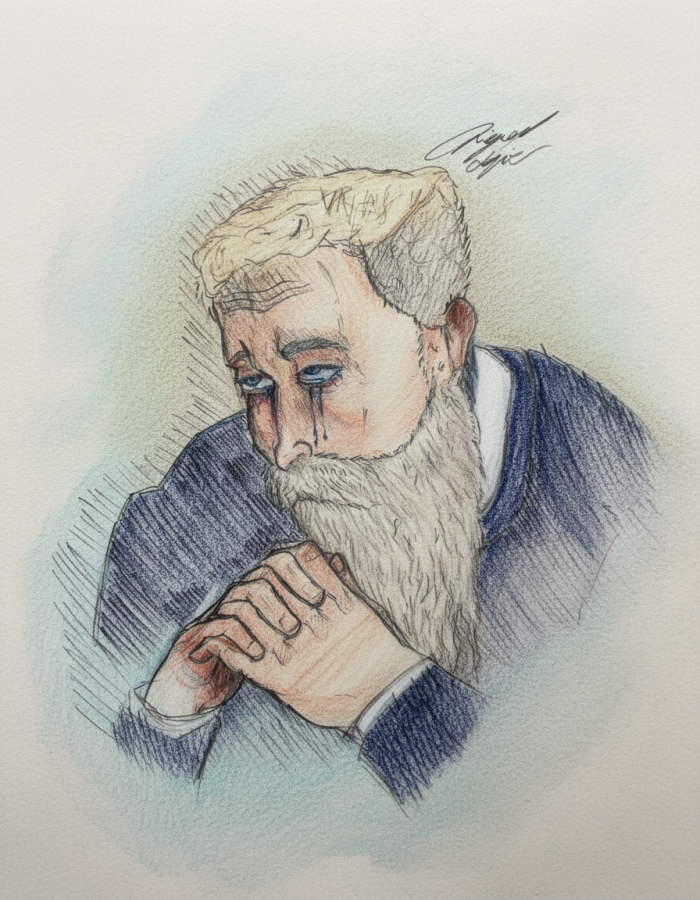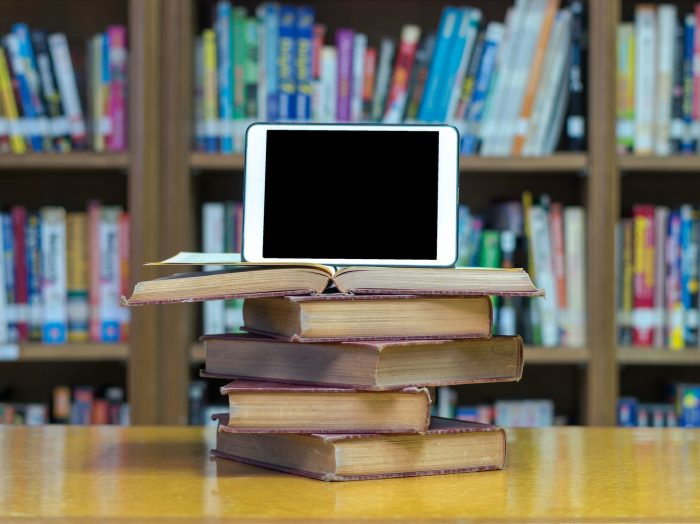Como é que ligamos os pontos?
Há alguma coisa para além da Inferência Imediata? A resposta é Sim.
A Inferência Imediata leva-nos a conhecimentos que estão escondidos noutros conhecimentos que já possuímos, mas este facto não nos leva muito longe. A nossa própria experiência mostra-nos que não pensamos apenas através da Inferência Imediata, mas também através da Inferência Mediata.
Porque é que se chama Inferência Mediata? Lembramos que com a Inferência Imediata somos capazes de ver a relação entre dois conceitos, sem a necessidade de termos um terceiro conceito mediato. No entanto, na Inferência Mediata usamos um terceiro conceito para estabelecer a relação. Este processo de inferência mediata chama-se raciocínio (na lógica também é chamado de argumentação ou discurso lógico).
O raciocínio é a terceira operação do intelecto, conforme vimos (a primeira é a apreensão simples, a segunda o julgamento). A forma mais básica de raciocínio consiste em três ideias (expressas na linguagem como “termos”) e três julgamentos (expressos na linguagem como “proposições”).
Destas duas proposições “O feto é um ser humano” e “Um ser humano tem o direito à vida” chegamos a uma terceira proposição – a conclusão – “O feto tem direito à vida”. Somos capazes de fazer a ligação entre os termos “feto” e “direito à vida” por intermédio de um mediador (chamado de “termo intermédio”): “Ser humano”. De facto, na maior parte do tempo, durante as nossas vidas, fazemos essas conexões. Na maior parte das nossas vidas necessitamos de “ligar os pontos”. É isso que fazemos quando raciocinamos: ligamos os pontos.
Quando somos pequenos conhecemos (sabemos) as coisas de uma forma dispersa. Outras pessoas, especialmente os nossos pais, os nossos professores, e os bons livros que lemos, ajudam-nos a descobrir as ligações entre os conceitos, ajudam-nos a ligar os pontos. Ao conhecermos (acedermos a) mais ligações tornamo-nos capazes de pensar mais claramente, decidir mais sabiamente (conscientemente) e comunicarmos mais eficazmente. Ao conectarmos os pontos espalhados da nossa experiência tornamo-nos capazes de ver o conjunto total da imagem e verificamos que, por detrás da complexidade aparente, há simplicidade.
O raciocínio implica sempre conhecimentos que já possuímos, os quais nos levam a outros conhecimentos que antes não conhecíamos. As verdades que já conhecíamos (possuíamos) chamam-se premissas ou antecedentes, e as que ainda não conhecíamos são conhecidas como conclusões ou consequentes.
Quais são as regras fundamentais do raciocínio? Há dois princípios gerais que podem ser expressos (ou considerados), tanto do ponto de vista das premissas como do ponto de vista das conclusões.
Do ponto de vista das premissas:
Regra P1: “Ex vero non sequitur nisi verum” – a verdade necessariamente surge da verdade. Se as premissas são verdadeiras as conclusões são necessariamente verdadeiras, desde que o processo de raciocínio esteja correcto (estudaremos este ponto mais tarde).
Regra P2: “Ex absurdo sequitur quodlibet” – Qualquer coisa pode resultar do que é absurdo ou falso. Se as premissas são falsas, a conclusão tanto pode ser verdadeira como falsa.
Do ponto de vista das conclusões:
Regra C1: Uma conclusão falsa significa necessariamente a existência de alguma falsidade (erro) nas premissas ou nos antecedentes. A maioria dos erros acontecem devido a falsas premissas ao invés de um raciocínio deficiente.
Regra C2: Uma conclusão verdadeira não necessita necessariamente que as premissas sejam verdadeiras. Por exemplo: Uma sociedade materialista pode promover famílias de mais de dois filhos, por verem esse facto como economicamente benéfico para a sociedade. No entanto, os ensinamentos sociais do Catolicismo dizem-nos que os filhos são dons concedidos por Deus, e não meras ferramentas para assegurarem o progresso económico.
Pe. José Mario Mandía

 Follow
Follow